Introdução: Cinco Concepções de Racionalidade
Esta é uma obra na história da filosofia sistemática, e ela própria é animada por uma aspiração filosófica sistemática. Em meu livro anterior, Making It Explicit (e ainda mais no caminho argumentativo traçado a partir dele em Articulating Reasons), as considerações sistemáticas estavam em primeiro plano, com as históricas relegadas a segundo plano. Este livro inverte essa gestalt figura-fundo, trazendo uma leitura da tradição filosófica para o primeiro plano. Enquanto os outros livros eram fortemente sistemáticos e apenas levemente históricos, este é fortemente histórico e apenas levemente sistemático. As interações que ele busca estabelecer entre texto e interpretação, no entanto, entre o histórico e o filosófico, entre pontos de vista discernidos ou atribuídos e aqueles adotados ou endossados, são suficientemente intrincadas para que valha a pena dizer algo um tanto sistemático sobre a concepção de historiografia filosófica que a rege, se o tipo de empreendimento empreendido deve ser devidamente compreendido.
Há uma perspectiva familiar da qual nem a narrativa histórica nem sua fundamentação metafilosófica pareceriam de suma importância. A filosofia analítica, em sua juventude, era visceralmente hostil tanto aos empreendimentos filosóficos históricos quanto aos sistemáticos. Pois esse movimento de pensamento inicialmente se definiu, em parte, por seu recuo diante dos excessos de programas filosóficos que remontavam a Hegel, para quem história e sistema articulam conjuntamente a forma da própria razão. Essa autocompreensão nunca foi unânime. Em meados do século XX, Wilfrid Sellars — um dos meus heróis particulares — destacou-se quase sozinho entre as principais figuras da tradição analítica, tanto em
[2] moldando seu projeto em um molde sistemático, e motivando-o e articulando-o em termos de uma releitura original de episódios importantes da história da filosofia. Mas o sucesso institucional frequentemente diminui a necessidade sentida de pureza e de exclusivismo rigoroso característicos das crenças combativas de inovadores em apuros nos primeiros dias de suas lutas. Com o tempo, tornou-se mais claro, creio eu, que o compromisso com o credo analítico fundamental — fé na argumentação fundamentada, esperança em um acordo fundamentado e clareza da expressão fundamentada (e a maior delas é a clareza) — não é incompatível com uma compreensão filosófica da compreensão filosófica como algo que admite, de fato, talvez até mesmo como algo que exige, formas históricas e sistemáticas.
Uma maior tolerância ao impulso sistemático na filosofia foi encorajada, creio eu, pelo exemplo de figuras contemporâneas tão imponentes como David Lewis e Donald Davidson (ambos, aliás, meus professores em Princeton anos atrás). Ambos são mestres do gênero de escrita filosófica característico da tradição analítica: o ensaio autocontido e precioso. No entanto, nesse meio, cada um deles realizou projetos filosóficos que, em virtude da abrangência de seu objetivo e da unidade dos princípios básicos invocados nas explicações, merecem comparação com os grandes sistemas filosóficos da antiguidade. E uma maior apreciação da contribuição que a atenção aos antecedentes históricos pode dar à nossa compreensão dos problemas filosóficos contemporâneos advém, em parte, dos exemplos concretos de progresso desse tipo em subdisciplinas específicas. Assim, por exemplo, seria raro um escritor, por exemplo, sobre raciocínio prático, que não reconhecesse a importância crucial de um trabalho detalhado sobre Aristóteles, Hume e Kant, tanto para a compreensão da situação atual quanto para encontrar um caminho a seguir a partir dela.
Por trás de questões tão rasteiras da sociologia disciplinar, porém, encontram-se questões filosóficas fundamentais sobre a natureza da racionalidade. Será útil, ao pensarmos no tipo de reconstrução racional de uma tradição filosófica empreendida aqui, considerar cinco modelos de racionalidade: lógico, instrumental, translacional, inferencial e histórico. Não afirmo que esta lista seja exaustiva, nem que esses modelos sejam mutuamente exclusivos. Mas talvez sirvam para situar um tipo de compreensão histórica em um espaço filosófico mais amplo.
Em um contexto, ser racional é ser lógico. Ser sensível à força da razão é uma questão de distinguir, na prática, argumentos logicamente bons daqueles que não o são. Para um conjunto de afirmações
[3] servir como uma boa razão para outra afirmação é que haja um argumento logicamente válido que os relacione a essa afirmação como premissas para uma conclusão. Fatos não lógicos e os significados do vocabulário não lógico contribuem para o raciocínio apenas ao fornecer premissas para inferências logicamente válidas.
O programa de assimilação de todo bom raciocínio a este modelo tem sido imensamente influente e produtivo na tradição filosófica. Assumiu sua forma moderna quando Frege ampliou enormemente o poder expressivo da lógica, concedendo-nos controle formal sobre o significado inferencial de propriedades quantificacionalmente complexas. O sucesso demonstrado por essa expressão na codificação do raciocínio matemático — pelo próprio Frege, por Hilbert e por Russell e Whitehead — foi um grande impulso para o empirismo lógico, cujo projeto central era estender o modelo lógico de raciocínio à ciência empírica. Justamente quando parecia que os limites desse empreendimento haviam sido atingidos, os avanços técnicos na expressão lógica de modalidades deram novo fôlego ao empreendimento.
O modelo lógico de raciocínio está mais próximo de suas origens: na codificação da inferência teórica, a maneira como as crenças podem fornecer razões para outras crenças. O modelo instrumental de raciocínio começa com a inferência prática — em particular, a maneira como desejos ou preferências, juntamente com as crenças, podem fornecer razões para a ação. Ele identifica a racionalidade com a inteligência, no sentido de uma capacidade generalizada de obter o que se deseja: a razão de Odisseu, em vez de Aristóteles. O que se tem razão para fazer, neste modelo, é o que fornece um meio para um fim endossado. O raciocínio meios-fins é formalmente codificado na teoria da escolha racional, tanto em suas espécies de teoria da decisão quanto de teoria dos jogos. Argumentos do livro holandês mostram que a utilidade (a medida da preferência) será maximizada por raciocinadores práticos que atribuem probabilidades a crenças compostas de maneiras que satisfaçam os axiomas da teoria clássica da probabilidade. E as leis da lógica clássica podem ser deduzidas como casos especiais a partir desses axiomas. Portanto, o modelo instrumental de racionalidade tem alguma pretensão de subsumir o modelo lógico como um caso especial.
Um aspecto a ser observado sobre esses dois modelos de racionalidade é que ambos tratam crenças e desejos (não logicamente) com conteúdo como insumos. Dado um conjunto de crenças, e talvez desejos, eles pretendem nos dizer quais conexões entre elas são racionais: quais constelações delas fornecem razões genuínas para quais outras. Consequentemente, pressupõem que o conteúdo desses estados psicológicos pode ser tornado inteligível.
[4] independentemente e antes de considerar conexões racionais entre elas. A ideia de que se pode primeiro fixar o significado ou conteúdo de premissas e conclusões, e só então se preocupar com as relações inferenciais entre elas, é característica do empirismo tradicional e do século XX. Esse compromisso semântico implícito é questionado, no entanto, pela tradição racionalista em semântica, que considera as questões sobre o que é uma razão para o quê como essenciais para a identidade e individuação dos conteúdos conceituais que se encontram nessas relações inferenciais.
Os modelos lógico e instrumental de razões também são (e não por coincidência) semelhantes em sua formalidade. Cada um vê a racionalidade como uma questão de estrutura do raciocínio, e não de seu conteúdo. O conteúdo substancial das crenças e desejos que fornecem as premissas para inferências teóricas e práticas candidatas é totalmente irrelevante para a racionalidade das conclusões delas extraídas. Tudo o que importa para a correção da inferência é que elas tenham a forma de inferências dedutivamente válidas ou a maximização da utilidade esperada, dadas essas premissas. As premissas em si estão além da crítica desses modelos de racionalidade, a menos e na medida em que tenham sido adquiridas como conclusões de inferências anteriores, que são avaliáveis em virtude de sua forma — e, mesmo assim, apenas em relação aos compromissos anteriores (apenas similarmente criticáveis) que fornecem suas premissas.
Um modelo de racionalidade que não é puramente formal é o modelo traducional-interpretacional, mais completamente desenvolvido por Davidson. Segundo essa visão, dizer que algum comportamento de outros é racional é, grosso modo, dizer que ele pode ser mapeado em nosso comportamento linguístico de maneiras que nos possibilitem conversar com eles — pelo menos, extrair inferências de suas afirmações, usá-las como premissas em nosso próprio raciocínio. A ideia é usar nosso próprio conhecimento prático, nossa capacidade de distinguir razões de não razões e de dizer o que se segue do quê, para avaliar a racionalidade teórica dos outros. Eles são racionais na medida em que seus ruídos (e outros comportamentos, descritos em termos não intencionais) podem ser mapeados nos nossos, de modo a torná-los sentido segundo nossos padrões: para exibi-los como crentes na verdade e buscadores do bem segundo nossa própria luz. Racionalidade, então, é por definição o que temos, e a interpretabilidade por nós é sua definição e medida.
A racionalidade não é, sob esta perspectiva, uma questão formal. Pois a ininteligibilidade ou a excentricidade das crenças e desejos substantivos e ilógicos que consideramos que nossos alvos interpretativos demonstram em seu comportamento, tanto
[5] linguística e não linguística, é tão relevante para avaliações de sua racionalidade quanto as conexões entre elas que discernimos ou que consideramos que defendem. Temos que ser capazes de considerar os outros como concordantes conosco no conteúdo e (portanto) nas conexões entre suas crenças e desejos, o suficiente para formar um pano de fundo contra o qual discordâncias locais possam ser tornadas inteligíveis, se quisermos considerá-las interpretáveis, isto é, racionais — para o que elas precisam se manifestar como crenças e desejos — de qualquer forma.
A racionalidade como interpretabilidade também pode pretender subsumir ou incorporar os modelos lógico e instrumental de racionalidade. Para o primeiro, a forma explícita de uma interpretação davidsoniana inclui uma teoria da verdade recursiva para a expressão idiomática que está sendo interpretada, incluindo novos compostos sentenciais que nunca foram efetivamente utilizados. Assim, identificar expressões que funcionam como vocabulário lógico pode fornecer uma estrutura formal dentro da qual o restante do processo interpretativo pode ocorrer. Ser criaturas lógicas é, sob essa perspectiva, uma condição necessária para sermos racionais, embora haja muito mais na racionalidade do que apenas isso. Para o segundo, tornar o comportamento das criaturas interpretadas inteligível requer a atribuição de exemplos de raciocínio prático. E Davidson considera que estes terão a forma do que ele chama de “razões completas”: constelações de crenças e desejos que racionalizam o comportamento de acordo com o modelo instrumental. A menos que se possa interpretar o comportamento-alvo como, em sua maior parte, instrumentalmente racional, não se pode interpretá-lo de forma alguma.
Por fim, o modelo interpretativo não considera as conexões racionais entre estados psicológicos ou as frases que os expressam irrelevantes para os conteúdos que se pretende evidenciar. Pelo contrário, o que faz com que algo tenha ou expresse o conteúdo que tem é o que o torna interpretável de uma maneira e não de outra. E isso é uma questão de suas conexões com outras coisas, do papel que desempenha na economia comportamental racional geral daquele que está sendo interpretado. O que torna correto mapear o ruído de outro nesta minha frase, e assim atribuir a ele o conteúdo expresso por essa frase na minha boca, é apenas que suas relações com outros ruídos espelhem suficientemente as relações que minha frase mantém com outras frases minhas: o que é evidência a favor e contra ela, e o que é evidência a favor e contra, bem como quais estímulos ambientais evocam meu endosso a ela e qual papel ela desempenha no raciocínio prático que leva à ação não linguística. Essas relações consequentes são da essência da interpretabilidade e, portanto, da racionalidade neste modelo.
[6] Ofereci apenas um breve lembrete sobre essas três primeiras concepções de racionalidade, uma vez que são estabelecidas e familiares, e foram habilmente expostas, elaboradas e defendidas por outros. As duas últimas concepções diferem nesses aspectos. Mas são, no mínimo, mais importantes para a compreensão do conjunto desta obra. Portanto, exigem esboços um pouco mais completos.
Um quarto modelo de racionalidade é o inferencialista que desenvolvo em Making It Explicit. Nessa visão, ser racional é jogar o jogo de dar e pedir razões. Enunciados e estados são proposicionalmente contentes apenas na medida em que se mantêm em relações inferenciais entre si: na medida em que podem tanto servir como razões quanto necessitar delas. Conteúdos conceituais são papéis inferenciais funcionais. As inferências que articulam conteúdos conceituais são, em primeira instância, inferências materiais, em vez de lógicas — inferências como a de A estar a oeste de B para B estar a leste de A, ou de uma moeda ser cobre para derreter se aquecida a 1084°C, mas não se aquecida apenas a 1083°C. Ser racional é ser produtor e consumidor de razões: coisas que podem desempenhar o papel tanto de premissas quanto de conclusões de inferências. Enquanto alguém puder afirmar (apresentar algo como uma razão) e inferir (usar algo como uma razão), será racional. Os detalhes das conexões inferenciais materiais específicas que alguém subscreve afetam o conteúdo das frases que estão nessas relações, mas enquanto as conexões forem genuinamente inferenciais, elas são racionais — em um sentido global, que é compatível com falhas locais de racionalidade, na medida em que alguém faz inferências ruins ou raciocina incorretamente de acordo com os compromissos inferenciais materiais constitutivos do conteúdo que governam essas frases específicas.
Essa visão inferencial da racionalidade desenvolve e incorpora uma visão amplamente interpretativa. Pois, tomar ou tratar alguém na prática como alguém que oferece e merece razões é atribuir compromissos e direitos inferencialmente articulados. Tal controle de pontuação deôntico requer a manutenção de dois conjuntos de registros: um sobre as consequências e antecedentes dos compromissos do outro interlocutor quando estes são conjugados com outros compromissos que se atribui a ele, e o outro sobre as consequências e antecedentes desses compromissos quando estes são conjugados com os compromissos que se assume ou endossa para si mesmo. Trata-se de ser capaz de mapear os enunciados do outro com os seus próprios, de modo a navegar conversacionalmente entre as duas perspectivas doxásticas:
[7] ser capaz de usar as observações do outro como premissas para o próprio raciocínio e saber o que ele faria com o seu. Embora os detalhes desse processo sejam elaborados de forma diferente — em termos da capacidade de especificar o conteúdo dos compromissos do outro, tanto da maneira como seria explicitado por atribuições de dicto de atitude proposicional, quanto da maneira como seria explicitado por atribuições de re das mesmas atitudes — a contagem de pontos deôntica é reconhecidamente uma versão do tipo de processo interpretativo de que Davidson fala. Um tipo de interpretabilidade é o que a racionalidade também consiste nessa imagem inferencial.
Incorporar uma semântica inferencialista a uma pragmática normativa, no entanto, oferece recursos adicionais para o desenvolvimento desse pensamento comum. Pois minha afirmação em Making It Explicit é que existe outra maneira de entender o que é inferir e afirmar, além da interpretabilidade. Nada é reconhecível como uma prática de dar e pedir razões, afirmo, a menos que envolva assumir e atribuir compromissos. E esses compromissos devem estar em relações consequentes: fazer um movimento, assumir um compromisso, deve carregar consigo outros compromissos — pré-sistemáticamente, compromissos cujos conteúdos decorrem do conteúdo do primeiro compromisso. Além disso, uma prática de dar e pedir razões deve ser aquela em que a questão do direito de alguém a um compromisso que assumiu (ou que outros atribuem) possa surgir. E esses direitos também devem estar em relações consequentes: o direito a um movimento pode carregar consigo o direito a outros.
Com base em considerações como essas, identifico uma estrutura particular de comprometimento e direito consequentes que merece ser chamada de inferencial. Os dois tipos de status deôntico geram três tipos de relações de pontuação consequentes e, portanto, três dimensões ao longo das quais relações inferenciais materiais genuínas são articuladas:
– As relações inferenciais que preservam o compromisso são uma generalização para
[8] o caso de inferências materiais de relações dedutivas. Por exemplo, uma vez que C.S. Peirce foi quem estabeleceu um padrão universal para o metro com base nos comprimentos de onda da luz, qualquer um que esteja comprometido com a ideia de que Peirce foi um grande filósofo está, quer saiba disso ou não, comprometido com a ideia de que aquele que estabeleceu um padrão universal para o metro com base nos comprimentos de onda da luz foi um grande filósofo.
– Relações inferenciais que preservam o direito são generalizações para o caso de inferências materiais de relações indutivas. Por exemplo, uma vez que leituras barométricas decrescentes se correlacionam de forma razoavelmente confiável (por meio de uma causa comum) com a tempestade que se avizinha, alguém que tem direito e está comprometido com a afirmação de que a leitura barométrica está decaindo tem alguma razão que autoriza (em um sentido fraco e não coercitivo) o comprometimento com a afirmação de que a tempestade se avizinha.
– Implicações de incompatibilidade são generalizações para o caso de inferência material de relações modalmente robustas. Duas afirmações são incompatíveis (de acordo com um avaliador de pontuação) se o comprometimento com uma delas impede o direito à outra. Por exemplo, afirmar que o fragmento é totalmente vermelho é incompatível com a afirmação de que ele é totalmente azul. Uma incompatibilidade de afirmação implica outra se tudo o que é incompatível com a segunda for incompatível com a primeira (mas talvez não o contrário). Por exemplo, ser um leão implica ser um mamífero nesse sentido, porque tudo o que é incompatível com ser um mamífero (por exemplo, ser um invertebrado ou um número primo) é incompatível com ser um leão.
Eu chamo uma prática de atribuição de compromissos e direitos de inferencialmente articulada se a pontuação deôntica for mantida de uma forma que respeite as relações de todos os três tipos.
Esses três tipos de inferência determinam a herança interconteúdo e intrapessoal de comprometimento e direito. Se, além disso, uma prática contém intraconteúdo testemunhal, herança interpessoal que possui o que chamo de estrutura de “padrão e desafio”, e saídas e entradas linguísticas avaliadas interpessoalmente pela confiabilidade*, então chamo a prática em questão de discursiva. A Parte Dois de “Tornando Explícito” mostra que articulação adicional, por meio de inferências de substituição e da herança anafórica do potencial inferencial de substituição, explicável inteiramente em termos destes, está então envolvida em ter locuções desempenhando os papéis funcionais amplamente inferenciais de termos singulares e predicados complexos, de nomes próprios, descrições definidas e demonstrativos, de vocabulário semântico, vocabulário intencional e uma variedade de outras categorias lógicas sofisticadas. A afirmação geral é que as práticas que exibem a estrutura social amplamente inferencial de herança de status normativos que chamo de “discursivas” são exatamente aquelas que serão interpretáveis em relação às nossas. A afirmação de que esta caracterização formal em termos de estatutos normativos inferencialmente articulados, e a material em termos de
[9] mapeamentos em nossas próprias práticas são duas maneiras de identificar as mesmas práticas, é uma afirmação empírica ousada e potencialmente falseável. Não afirmo ter demonstrado, em Making It Explicit, a verdade da conjectura de que essas duas noções de racionalidade de fato coincidem. Mas uma das aspirações teóricas sistemáticas que norteiam esse livro é fornecer uma caracterização estrutural de práticas que merecem ser pensadas como construídas em torno da oferta e do pedido de razões — uma caracterização que seja suficiente para garantir a interpretabilidade material em termos de nossas próprias práticas linguísticas.
Já indiquei que a visão inferencialista normativa da racionalidade constitutiva do significado deve ser pensada como uma forma de desenvolver os insights básicos da abordagem interpretativa da racionalidade. Ela também leva a novas compreensões sobre o que está por trás dos modelos lógico e instrumental. Ver a semântica e a compreensão da racionalidade como dois lados da mesma moeda, e compreender ambas em termos da articulação inferencial material de compromissos e direitos (a pragmática normativa por trás da semântica inferencial), juntas, abrem a possibilidade de uma maneira diferente de pensar sobre a relação entre lógica e racionalidade. Em vez de ver a conformidade com verdades lógicas como aquilo em que consiste a racionalidade, pode-se ver o vocabulário lógico como possibilitando a codificação explícita de relações inferenciais constitutivas do significado. Em uma visão tão expressiva da função da lógica, a tarefa característica das locuções lógicas como tais é, por assim dizer, na forma de afirmações explícitas, o que de outra forma só poderíamos fazer — ou seja, endossar algumas relações inferenciais materiais e rejeitar outras. Antes da introdução da condicional, por exemplo, pode-se implicitamente tomar ou tratar a inferência material (em qualquer um dos três sentidos botânicos acima) de p para q como boa ou má, endossando-a ou rejeitando-a na prática. Uma vez que uma condicional adequada esteja disponível, no entanto, pode-se afirmar explicitamente que p implica q. E afirmações explícitas são o tipo de coisa sobre a qual podemos raciocinar, solicitar evidências ou argumentos. A função expressiva das locuções especificamente lógicas é tornar as relações inferenciais explícitas, trazê-las para o jogo de dar e pedir razões como coisas cujas próprias credenciais racionais estão disponíveis para inspeção e crítica. E uma vez que, de acordo com a abordagem inferencialista da semântica, são essas relações racionais em virtude das quais expressões não lógicas comuns significam o que significam, ao tornar as relações inferenciais explícitas (reivindicativas, adequadas para servir como premissas e conclusões de outras inferências) e, portanto, sujeitas à crítica e à defesa fundamentadas, as locuções lógicas trazem
[10] aspectos essenciais do conteúdo semântico dessas expressões, da escuridão da discriminação prática implícita para a luz do dia da explicitude. A lógica não define a racionalidade no sentido mais básico, mas, ao nos possibilitar expressar explicitamente as relações já racionais que articulam o conteúdo de todos os nossos pensamentos, ela inaugura um nível superior de racionalidade. É uma ferramenta para a expressão e exploração das consequências e discordâncias entre nossos compromissos racionais — porque articulados inferencialmente. Em suma, a lógica é o órgão da autoconsciência semântica.* Por esse motivo, sermos criaturas lógicas é uma conquista subsequente e dependente de sermos criaturas racionais.
O raciocínio prático também se diferencia da perspectiva semântica inferencialista quando é elaborado em termos de status normativos. Relações inferenciais práticas podem ser pensadas como transições que governam (herança de compromisso ou direito) de compromissos doxásticos para práticos, isto é, dos compromissos reconhecidos em asserções para compromissos de fazer algo. Visto por esse ângulo, expressões de preferência ou desejo aparecem como compromisso codificador com a propriedade de padrões de inferência prática. Assim, a preferência ou o desejo de S de permanecer seco é um compromisso com inferências da forma:
Somente fazer A me manterá seco. -> . Farei A.
da mesma forma que o condicional p > q expressa um compromisso com a correção das inferências de p para q. Em ambos os casos, é um erro confundir as declarações que tornam as licenças de inferência explícitas com as premissas necessárias para que a inferência seja lícita em primeiro lugar — por razões que Lewis Carroll tornou familiares em “Aquiles e a Tartaruga”.
Além disso, preferências e desejos são apenas um tipo de licença prática para inferência. Pois, em geral, esse é o papel expressivo característico do vocabulário normativo como tal. Assim, uma declaração das obrigações associadas a algum status institucional, como “Os servidores públicos são obrigados a tratar o público com respeito”, autoriza inferências da seguinte forma:
Fazer A não seria tratar o público com respeito. -> Não farei A.
Este padrão institucional de inferência prática difere do padrão de preferência, pois este último é vinculativo apenas para aqueles que o endossam.
[11] preferência em questão, enquanto a primeira é vinculativa para qualquer pessoa que ocupe o status em questão, ou seja, para os servidores públicos — independentemente de seus desejos. Outro padrão de raciocínio prático é codificado por reivindicações normativas que não são condicionadas à ocupação de um status institucional. Assim, “É errado (não se deve) causar dor sem propósito” autoriza inferências da seguinte forma:
Fazer A causaria dor sem propósito. -> Não farei A.
Endossar a reivindicação normativa incondicional é comprometer-se com a vinculação dessa forma de inferência prática para qualquer pessoa, independentemente de preferências ou status institucional.
Na perspectiva inferencialista, todos esses “deveres” — o instrumental, o institucional e o incondicional — são, no sentido mais básico, deveres racionais. Pois eles codificam compromissos com padrões de raciocínio prático. Desse ponto de vista, o humeano, que insiste em assimilar todo o raciocínio prático ao primeiro modelo, o instrumental, sob pena de um veredito de irracionalidade prática, e o kantiano, que insiste em assimilar todo o raciocínio prático ao terceiro modelo, o incondicional, sob pena de um veredito de irracionalidade prática na forma de heteronomia, assemelham-se na busca de estratégias explicativas procrustinas. As verdadeiras questões dizem respeito à justificação de compromissos normativos dessas várias formas: as circunstâncias sob as quais um ou outro deve ser endossado e quais considerações defendem a resolução de incompatibilidades entre tais compromissos de uma forma e não de outra. A concepção inferencialista católica de racionalidade e a visão expressiva da lógica que ela engendra sugerem que uma incompreensão do papel expressivo lógico (isto é, codificador de inferências) do vocabulário normativo está por trás de visões que veem cada instância de um ou outro desses (e, na verdade, de outros) padrões de raciocínio prático como, em princípio, desprovidos de credenciais racionais, até que, e a menos que, possam ser reduzidos a ou derivados de um dos outros. Já indiquei que, do ponto de vista inferencialista, tanto as concepções lógicas reducionistas quanto as instrumentais de racionalidade sofrem de dependência implícita em concepções semânticas ingênuas, porque atomísticas, que tornam as conexões racionais entre crenças e desejos irrelevantes para seu conteúdo. (O holismo que o inferencialismo traz em sua esteira, e o funcionalismo do qual é uma espécie, são comuns
[12] tópicos de muitos dos ensaios que compõem o corpo deste livro.) Deveria estar claro agora que, desse mesmo ponto de vista, tanto a concepção lógica quanto a instrumental de racionalidade derivam de filosofias equivocadas da lógica — mal-entendidos sobre o papel expressivo do vocabulário lógico (que inclui, segundo essa visão, o vocabulário normativo). Como resultado, elas confundem a sombra da racionalidade com sua substância.
A abordagem inferencialista à racionalidade, à semântica e à intencionalidade estará bastante em evidência no restante deste livro. Mas há outra abordagem, devida a Hegel, que também a informa. Trata-se de uma concepção histórica, que entende a racionalidade como consistindo em um certo tipo de reconstrução de uma tradição — uma que a exibe como tendo a forma expressivamente progressiva do desdobramento gradual e cumulativo em explicitude daquilo que se apresenta retrospectivamente como tendo estado sempre implícito naquela tradição. Genericamente, essa visão, como as inferencialistas, parte da ideia de que ser racional é ser um usuário de conceitos. A racionalidade consiste tanto em estar sujeito a (avaliação de acordo com) normas conceituais quanto em ser sensível a elas — estar vinculado a, e capaz de sentir a força da, razão superior. No caso mais básico, ser racional é dizer o que é, o que é — no sentido de aplicar corretamente universais a particulares, classificando os particulares como devem ser classificados, caracterizando-os em julgamento pelos universais aos quais realmente se enquadram, de acordo com as normas que governam implicitamente a aplicação desses universais. Neste ponto, porém, uma questão pode ser levantada: como devemos entender o fato de que normas conceituais determinadas estão disponíveis, determinando, para cada universal, a quais particulares ele é aplicado corretamente?
O interpretativista apontou que tanto o lógico quanto o instrumentalista, em relação à racionalidade, pressupõem implicitamente que podemos compreender a concretude de crenças e desejos antes de pensarmos nas conexões racionais entre eles. O inferencialista apontou que o interpretativista, em relação à racionalidade, não nos diz o que há na estrutura de nossas próprias práticas – o fundamento prático da interpretação, sobre o qual quaisquer outras devem ser mapeáveis para serem consideradas racionais ou discursivas – em virtude do qual elas merecem ser pensadas como racionais ou discursivas. O historicista, em relação à racionalidade, por sua vez, aponta que o inferencialista toma como certo um conjunto de normas inferencialmente articuladas como um empreendimento já em funcionamento. Mas sob quais condições normas conceituais determinadas são possíveis? O que nós
[13] temos a ver com estabelecer ou conectar-nos com, sujeitar-nos a, tais normas determinadas? Que esta questão exija investigação é a exigência final desta série de questionamentos críticos cada vez mais radicais dos pressupostos semânticos das teorias da racionalidade.
Para Hegel, a questão surge no contexto de uma constelação de compromissos pragmatistas. Conceitos para ele, assim como para Kant, são normas de julgamento. Eles determinam propriedades de aplicação a particulares de termos que, devido ao papel normativo que desempenham em tais julgamentos, expressam universais. Mas ele também tem a ideia de que a única coisa disponível para determinar qual universal uma palavra expressa é a maneira como essa palavra — e outras ligadas a ela inferencialmente — foram de fato aplicadas em julgamentos anteriores. E agora podemos perguntar: o que há em seu uso que faz com que esses termos expressem um universal determinado em vez de um um pouco diferente? Como as aplicações de universais a particulares que foram de fato feitas em qualquer ponto no tempo — tanto não inferencialmente por observação quanto inferencialmente como consequência de aplicações de outros universais inferencialmente ligados a particulares — conseguem determinar se seria correto aplicar esse termo a algum particular que ainda não foi avaliado? Como o que realmente fizemos com os termos, os julgamentos que realmente fizemos, determinam o que devemos fazer com eles em casos novos?
O modelo que considero mais útil para compreender o tipo de racionalidade que consiste em selecionar retrospectivamente uma trajetória expressivamente progressiva através de aplicações passadas de um conceito, de modo a determinar uma norma que se possa entender como regendo todo o processo e, assim, projetar para o futuro, é o dos juízes em uma tradição de common law. O common law difere do direito estatutário no sentido de que tudo o que há para estabelecer os limites da aplicabilidade dos conceitos que emprega é o registro de casos efetivamente decididos que podem servir como precedentes. Não há uma declaração inicial explícita de princípio que governe a aplicação de universais jurídicos a conjuntos específicos de fatos — apenas uma prática de aplicá-los em circunstâncias sempre novas. Portanto, qualquer que seja o conteúdo desses conceitos, eles se originam do histórico de suas aplicações reais. Um juiz justifica sua decisão em um caso específico racionalizando-a à luz de uma leitura dessa tradição, selecionando e enfatizando decisões anteriores específicas como precedentes, de modo que uma norma emerge como uma lição implícita. E é essa norma que é então invocada na decisão do caso presente e implicitamente considerada vinculativa em casos futuros. Para encontrar tal norma,
[14] O juiz deve tornar a tradição coerente, deve exibir as decisões efetivamente tomadas como racionais e corretas, visto que a norma que ele encontra é a que implicitamente governou o processo desde o início. Assim, cada uma das decisões anteriores selecionadas como precedentes emerge como explicitando algum aspecto dessa norma implícita, como reveladora de um pouco dos limites do conceito.
Tal processo é racional em um sentido distinto e estruturado. A racionalidade da decisão atual, sua justificabilidade como aplicação correta de um conceito, é assegurada pela reconstrução racional da tradição de suas aplicações de acordo com um determinado modelo — oferecendo uma genealogia seletiva, cumulativa e expressivamente progressiva. Em cada estágio de seu desenvolvimento, é na medida em que se considera a tradição racional, por meio de uma reescrita Whiggiana de sua história, que se faz com que a tradição seja e tenha sido racional. Um certo tipo de racionalidade — em sua forma mais explícita e autoconsciente, uma característica da autorreflexão da alta cultura — consiste em um compromisso com a compreensão da tradição que nos dá palavras para falar, exibindo-a dessa forma. Esta é a marcha da razão pela história. Dessa forma, como diz Hegel, a contingência assume a forma de necessidade. Isto é, juízos que se manifestam inicialmente como produtos adventícios de circunstâncias acidentais (“o que o juiz comeu no café da manhã” ou, menos levianamente, confluências contemporâneas de correntes intelectuais, sociais e políticas) são exibidos como aplicações corretas de uma norma conceitual discernida retrospectivamente como já implícita em juízos anteriores. (Para Hegel, assim como para Kant, “necessário” sempre significa de acordo com uma regra.) Contar uma história desse tipo — encontrar uma norma criando uma tradição, dando-lhe uma genealogia — é uma forma de racionalidade como história sistemática.
Hegel pensa que assumir que existem normas conceituais genuínas em jogo — e, portanto, assumir que há uma diferença entre julgar e inferir corretamente e incorretamente — é assumir que existe uma história genealógica expressivamente progressiva sobre seu desenvolvimento. (Compare a visão de Davidson de que assumir que alguém quer dizer ou acreditar em algo é assumir que há um mapeamento interpretativo de seus ruídos sobre os próprios, satisfazendo certas restrições.) A reconstrução racional de uma tradição de aplicações reais — transformar um passado em história — é uma espécie de reflexão sobre ela, uma espécie de autoconsciência. Outra maneira pela qual ele expressa seu ponto é que a consciência, entendida como o inferencialista a faz, como a aplicação de
[15] conceitos em juízo pressupõem autoconsciência, no sentido de, pelo menos implicitamente, criar normas a partir de aplicações reais, ou encontrar essas normas em tais aplicações. De fato, para Hegel, a noção inferencialista de consciência e a noção histórica de autoconsciência são conceitos reciprocamente dependentes dos sentidos, dois lados da mesma moeda. Nenhum deles é inteligível separadamente do outro.
Essa autoconsciência genealógica pode ser, ela própria, mais ou menos explícita. Em sua forma mais explícita, esse tipo de reflexão, autoconsciência, inteligibilidade ou transparência se expressa na forma do tipo de narrativa de amadurecimento que Hegel — teorizando como membro da primeira geração a ser realmente arrebatada pela possibilidade e pelo potencial da história intelectual — nos oferece em sua Fenomenologia. E o objetivo de sua Lógica, como a entendo, é nos fornecer um vocabulário no qual explicitemos o processo pelo qual conceitos determinados ordinários adquirem conteúdo ao serem aplicados na experiência.® Não é preciso pensar que ele obteve sucesso — muito menos que tenha obtido sucesso em qualquer sentido final — para estimar o empreendimento.
Em uma escala muito menor e menos ambiciosa, este livro pretende esboçar os contornos de tal história sistemática. É um exercício desse tipo de racionalidade reconstrutiva genealógica, histórica e expressivamente progressiva, dirigida a uma constelação particular de conceitos filosóficos. (De fato, em uma escala ainda menor, esta introdução é escrita no mesmo gênero.) Como Hegel reconheceu, o processo de determinação que consiste em encontrar conceitos implícitos ao criar explicitamente uma tradição não deixa tudo como estava antes. Uma de suas ideias mais básicas é que formações culturais como tradições filosóficas, como eus individuais autoconscientes, exibem a liberdade peculiar que consiste em ter o que são para si mesmos como um elemento essencial do que são em si mesmos. Isso, para ele, é o que significa ser seres discursivos, normativos, geistig, em vez de meramente naturais. A maneira como entendemos e concebemos o que estamos fazendo afeta o que estamos, de fato, fazendo. Encontramos um caminho a seguir reconstruindo o caminho que nos trouxe à nossa situação atual.® O modelo histórico sistemático de racionalidade é uma codificação teórica do pensamento de que um tipo distintivamente valioso de orientação prospectiva é proporcionado por um tipo especial de percepção retrospectiva.
Trata-se de um pensamento essencialmente pluralista. A ideia que pretendo apresentar é a de oferecer uma teoria filosófica contemporânea sistemática e uma reconstrução racional de algumas vertentes da história da
[16] A filosofia pode ser dois lados da mesma moeda, dois aspectos de um empreendimento. Em certo sentido, é claro, contar histórias sobre como nos metemos na enrascada em que nos encontramos pode ser egoísta: uma questão de reescrever a história da filosofia para tornar os dias atuais um ambiente seguro e agradável para visões que, em qualquer caso, serão recomendadas. O resultado da descrição anterior dessa forma de racionalidade é que contar tais histórias é parcialmente constitutivo dos compromissos (e, portanto, do eu) que são, nesse caso, atendidos. Mas, na minha opinião, a melhor resposta filosófica a tal narrativa não é a crença ou o endosso, mas sim contar mais histórias desse tipo. É o pensador que possui apenas uma dessas expressões idiomáticas para expressar e desenvolver sua autocompreensão que se sente cativado. Portanto, o sentido em que tal história afirma ser correta — o sentido de endosso que ela solicita — não é exclusivo. Não é incompatível com a existência de outras maneiras legítimas de contar a história, motivando outros empreendimentos filosóficos contemporâneos.
O que estou recomendando e praticando aqui é uma entre muitas formas de inteligibilidade, motivada primeiro pela produção de instâncias dela, e só então por um relato de que tipo de compreensão (de acordo com o expressivo modelo genealógico cumulativo de racionalidade) ela é capaz de incorporar e transmitir. A Parte Um desta obra oferece (nos Capítulos 1 e 2) um contexto histórico — uma maneira de compreender a tradição que é o horizonte da inteligibilidade, sendo ao mesmo tempo criada e invocada no que se segue. E no Capítulo 3, oferece uma justificativa metodológica, uma maneira de pensar sobre o tipo de empreendimento histórico sistemático que está sendo empreendido na obra como um todo. A Parte Dois, então, apresenta relatos mais detalhados, escavações na tradição em vários pontos, ancorando e motivando, se tudo correr bem, uma reconstrução racional da trajetória normativa do pensamento instituída pelas figuras consideradas e incorporadas na tradição que, assim, se torna visível.
Os capítulos 4 a 12 oferecem ensaios sobre Spinoza, Leibniz, Hegel, Frege, Heidegger e Sellars. Este é um grupo aparentemente heterogêneo — mas o objetivo é que pareçam menos heterogêneos depois de trabalharmos neste material do que antes. Em cada caso, minha preocupação é com a teoria semântica dos filósofos em questão: sua compreensão do conteúdo de pensamentos, crenças, afirmações e comportamentos práticos, e com as descrições que eles dão de sua natureza representacional. O tópico é, portanto, a intencionalidade, em um sentido amplo o suficiente para incluir tanto o que é ter um pensamento de que as coisas são assim e assim, quanto o que é ser.
[17] pensar em ou sobre as coisas de uma determinada maneira. Quando essas figuras são vistas através das lentes fornecidas por essa constelação de preocupações, um conjunto de temas sobrepostos e estratégias explicativas surge. Geralmente, ou na maior parte, as explicações da intencionalidade oferecidas aqui são de caráter funcionalista, inferencialista, holístico, normativo e pragmático social. Nenhuma dessas características é compartilhada por todas as figuras consideradas, e nenhuma figura as exibe todas. Mas minha afirmação é que, tomadas em conjunto, essas semelhanças familiares unem esses filósofos em uma tradição distinta e reconhecível, retrospectivamente discernível. A esperança é que, ao defender essa afirmação, seja possível, ao mesmo tempo, enriquecer nossa compreensão dos tópicos filosóficos abordados, fornecer um novo ponto de vista conceitual a partir do qual possamos observar nossos ancestrais filosóficos e destacar algumas características centrais do tipo de racionalidade que consiste em discernir uma tradição filosófica, elaborando uma instância concreta de tal empreendimento.
A Parte Dois pode ser lida sem a Parte Um, ao custo de não compreender como vejo os ensaios ali contidos como se encaixando e definindo uma tradição, e em que tipo de empreendimento me entendo por aí. A Parte Um pode ser lida sem a Parte Dois, ao custo de não ver nenhum exemplo real do tipo de empreendimento sobre o qual teorizo ali. Minha intenção é que — como qualquer texto ou tradição propriamente ditos — o todo seja mais do que a soma de suas partes.
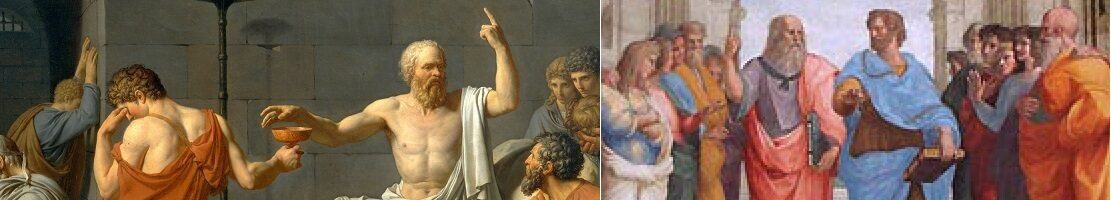
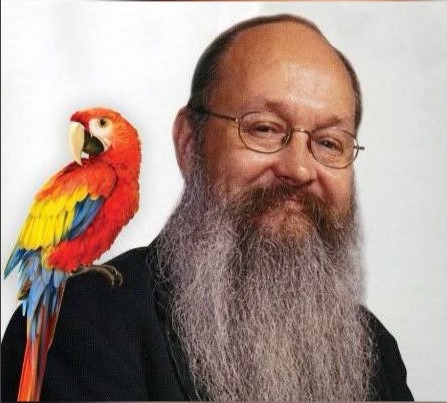
Be the first to comment on "Tales of the Mighty Dead: Introdução: Cinco Concepções de Racionalidade (Robert Brandom)"