GOD AND EVIL: A STUDY OF SOME RELATIONS BETWEEN FAITH AND MORALS (1958)
H. D. AIKEN
Para forasteiros, sempre houve um fascínio sombrio no fato de que o monoteísmo ocidental, que se arroga ao seu poder exclusivo de Deus para nos redimir do mal, deve ser tão atormentado pela proposição aparentemente simples, mas evidente, de que algo é mau. Mas até mesmo especialistas comparativos como Agostinho e Dostoievski ficaram obcecados pela ironia implícita no fato de que, tendo começado a se justificar diante de Deus, devem terminar desesperadamente por ter que encontrar desculpas para ele. Entre a justiça do homem e a justiça de Deus, como Abraão e Jó descobriram, cai uma sombra cuja escuridão se torna apenas mais inescrutável à medida que a luz da razão humana é dirigida sobre ela. Esse enigma, ou paradoxo, que marca a mais profunda crise de fé e moral que o monoteísta conhece, costuma ser chamado de “o problema do mal”. Poderia, com mais propriedade, ser rotulado como “o problema da fé e da consciência”. Comparadas a ela, as perplexidades metafísicas inerentes às noções de uma “causa sui” ou um ser necessário são, no sentido de Locke, insignificantes. Estes últimos pertencem a um episódio da história de uma teologia racionalista cuja ligação com a fé dos profetas, dos apóstolos e dos pais da Igreja permanece problemática. O problema do mal é de outra ordem. O que interessa é a consistência última de uma forma de vida, e o que ameaça é a fé que anima essa forma de vida. Nenhuma solução para isso se estenderia por um fio de cabelo, nem nossa compreensão das relações de ideias ou nosso conhecimento sobre questões de fato. Seria mais apropriado, de fato, falar não de soluções para o problema do mal, mas de modos de absolvição dele. Nestes dias alegres e espalhafatosos de existencialismo e neo-ortodoxia, tais observações podem parecer meramente sublinhar os perigos do pensamento consecutivo sobre problemas religiosos e éticos. Essa não era a intenção deles. Um problema não transcende a lógica simplesmente porque podemos chamá-lo de prático ou existencial. A inconsistência entre a fé e a consciência do monoteísta tradicional não pode ser removida, certamente, pelos métodos disponíveis para a ciência empírica, matemática ou filosofia linguística. Mas o próprio fato de que pode ser afirmado com alguma precisão deve ser evidência suficiente de que as declarações religiosas, bem como como julgamentos morais, ocasionalmente têm implicações ponderáveis. E nosso reconhecimento de que é uma inconsistência é ao mesmo tempo um reconhecimento implícito da demanda racional de que seja removida. Não há nada muito devastador nesses truísmos, exceto para aqueles que são tentados a proteger sua fé falando bobagens sobre seu Deus. “Se você inventar uma frase autocontraditória”, como observou o professor Anthony Flew, “ela não fará sentido milagrosamente só porque você colocou a palavra ‘Deus’ como seu sujeito.” Deve-se acrescentar que a obscuridade e a ofuscação não se tornam subitamente edificantes quando transpostas para uma chave teológica. As opiniões podem diferir quanto ao valor regenerativo da preocupação contínua com assuntos de interesse final. Mas não deve haver dúvida de que as preocupações últimas que não podem ser consistentemente formuladas são ofensas contra a razão e, portanto, ofensas contra o próprio espírito humano. Uma questão mais séria é se, dentro do contexto existencial da fé, o problema do mal pode não ser irreal. Tem sido dito que a questão de saber se Deus existe não tem significado para os não convertidos, mas que para os não convertidos ela não surge. sua vontade é, como dizemos, “boa por definição”, enquanto para os incrédulos, que negam que existe um Deus, qualquer questão sobre os méritos de sua vontade não tem sentido. Dentro do contexto da fé religiosa, que é o único contexto onde tais assuntos poderiam ser discutidos com proveito, não existe, em resumo, algo como o problema do mal. Fora desse contexto, é apenas um dilema formal que não tem interesse senão como exercício de lógica elementar. Antes de responder a essa objeção, vale a pena observar que não são apenas ateus e céticos que colocam o problema do mal. Ela já está presente em Jó, e é expressa com grande eloquência por Agostinho e por Dostoiévski. Tal ad hominem é, no entanto, formalmente uma petição de princípio e, formalmente, não aposto nada nisso. É mais pertinente perguntar se a conversão tem algum significado além da possibilidade de apostasia ou, como eu digo, “desconversão”. (A palavra própria “perversão” perdeu sua utilidade nesse sentido.) Também é necessário apontar nesse sentido que o que chamamos de “fé” é, na maioria dos casos, apenas uma aspiração nessa direção. Se os “estranhos” não podem questionar significativamente a existência ou a bondade de Deus, então, já que todos nós somos virtualmente estranhos, quem está em posição de afirmar isso? Questões limitantes ocorrem a todo homem, e todo homem, “significativamente” ou não, tem dúvidas sobre a bondade de Deus e, por meio delas, sobre Sua existência. Existencialmente, a desconversão, ou perda de fé, é uma ameaça constante que qualquer pessoa pode, na melhor das hipóteses, apenas esperar superar. Mesmo aqueles como Nietzsche, que anunciam que “Deus está morto”, pode-se dizer que sabem de onde falam. Os animais podem não ter o poder de entender conceitos religiosos, mas, se assim for, isso não se deve a nenhuma falta de fé de sua parte. Pelo contrário, a falta de fé é, logicamente, tão sólida evidência de compreensão quanto a própria fé. Tendemos, penso eu, a confundir a questão por não ter em mente a distinção entre fé e credo. Nenhum problema sobre a bondade ou existência de Deus é explicitamente reconhecido por aqueles encarregados da formulação de um credo. Por que deveria ser? Não se segue disso, porém, que tais problemas não tenham significado para aqueles que professam o credo. Para um Dostoiévski, o problema do mal não é tanto o problema do cristianismo, mas o problema dele. O credo é uma fórmula que é aceitável ou não, dependendo de sua capacidade de satisfazer as demandas conjuntas de fé, consciência e razão. Essas não são, por assim dizer, as demandas de esferas de atividade autoativadas e dissociadas que são impermeáveis ao que acontece no resto da vida. São as demandas interligadas de homens individuais ou grupos de homens. Há um sentido em que talvez possamos concordar que o coração tem razões que o intelecto não conhece; mas não deixam de ser razões, e o que não satisfaz os corações (e mentes) de muitos homens é a possibilidade de que qualquer coisa possa ser má se houver um Deus todo-poderoso que também seja perfeitamente bom.
II
Não é minha intenção neste artigo oferecer qualquer forma particular de alívio do problema do mal. Meu interesse atual no problema é filosófico: desejo meramente considerar que tipo de problema é e determinar o significado dos vários movimentos teológicos ou éticos que foram feitos para lidar com ele. Esta investigação pertence menos à teologia, que é ela mesma uma forma de discurso religioso, do que à filosofia da religião e da moral – isto é, à análise lógica, das declarações religiosas e morais e das formas de vida das quais elas são ao mesmo tempo uma manifestação e uma parte. Há muitas maneiras de colocar o problema do mal, dependendo da natureza precisa da fé em questão e dos males particulares, naturais ou morais, cuja existência é reconhecida. Por causa de sua brevidade comparativa, será conveniente apresentar aqui uma reformulação modificada dos problemas que Filo formula na Parte X dos Diálogos de Hume. Deve ser entendido que nenhuma reivindicação é feita aqui pelos méritos da teologia envolvida; deste ponto de vista, minha exposição será tão neutra quanto eu puder fazê-la. Em suma, adoto essa formulação para fins de análise e, portanto, apenas como modelo de trabalho. Muitos refinamentos podem ser facilmente introduzidos nele, mas estou convencido de que eles apenas complicariam nossa discussão sem aumentar nossa compreensão dos conceitos e das proposições envolvidas. Como aqui entendido, o problema do mal tende a surgir sempre que há uma disposição por parte de alguém para concordar com ambas as seguintes proposições: (a) há um ser onipotente e onisciente que é uma pessoa perfeitamente boa e que é o único Deus ; e (b) há algo no universo finito criado por aquele ser que é mau. Para fins de discussão, elas podem ser referidas respectivamente como (a) a tese teológica e (b) a tese ética. Sua inconsistência pode ser vista da seguinte maneira: por hipótese, um ser onipotente e onisciente pode fazer o que quiser. Mas qualquer pessoa perfeitamente boa, na medida do possível, fará o bem e impedirá o mal. Agora, se existe um ser que é ao mesmo tempo todo-poderoso, onisciente e perfeitamente bom, ele será capaz e disposto a evitar o mal. Por outro lado, se algo é mau, deve-se concluir que não existe tal ser, pois uma pessoa perfeitamente boa o impediria se pudesse, e um ser onipotente e onisciente poderia impedi-lo se quisesse. Ou, então, não existe tal ser ou nada é mau. Mas como, por hipótese, apenas tal ser é Deus, somos forçados a concluir que não há Deus ou que não há nada que seja mau. Este dilema, no entanto, é um problema sério apenas para o crente que aceita ou aspira a aceitar tanto as teses teológicas quanto as éticas. Sua situação pode ser expressa da seguinte maneira: Ambas as proposições lhe parecem certas; a tese teológica é certificada pela fé, a tese ética pela consciência. Se ele obedece aos livramentos da consciência, sua fé está em perigo; mas se aceita a fé a que aspira, deve evidentemente repudiar o que, em consciência, sabe ser mau. Como ele pode negar o que sua consciência lhe diz ser mau? No entanto, como ele pode negar o que pela fé ele acredita ser Deus? Sua consciência o ilude, ou sua fé é de alguma forma uma fé equivocada ou mesmo perversa? O que ele pode fazer? Em princípio, ele pode modificar sua concepção de Deus; ele pode mudar sua atitude em relação ao que considerou ser mau; ele pode tentar encontrar desculpas para Deus sob os auspícios da teodiceia; ou, finalmente, ele pode tentar viver com sua contradição como um homem honesto que se desespera com a integridade de sua alma. Faça o que fizer, seu modo de vida nunca mais será o mesmo, pois algo que até agora era a pedra angular desse modo de vida agora foi abalado em seus alicerces.
III
Antes de examinar os movimentos que podem ser feitos para aliviar o problema do mal, será necessário dar alguma atenção às próprias teses. Pois nossa compreensão do problema e de seus próprios problemas dependerá inteiramente do que entendemos como as proposições que o originam. A tese teológica tem várias partes que nem sempre são claramente distinguidas. Não se deve supor que, tomada como um todo, a tese explique o significado de “Deus”, mesmo para o próprio monoteísta. A razão fundamental pela qual Deus não tem essência é que nenhuma essência pode esgotar a idéia do santo ou do adorado. Na teologia, como na ética, as definições são comumente enganosas. Onde ocorrem, servem não como explicações do uso de expressões, mas como dispositivos para focalizar e direcionar sentimentos ou atitudes. Eles não explicam nada, mas significam muito, e o que eles significam não é algo sobre a natureza das coisas em si, mas sim a deriva de nosso próprio senso do que é sagrado ou adorado. É dessa maneira, acredito, que devemos entender como teólogos como Tomás de Aquino podem argumentar que Deus não tem essência, ao mesmo tempo em que discursam longamente sobre seu poder, personalidade e bondade inerentes. A primeira parte da tese teológica pode ser chamada de afirmação metafísica. O que afirma é que existe um ser todo-poderoso e onisciente. Ora, os atributos metafísicos de onisciência e onipotência não estão, é claro, inteiramente livres de suas próprias dificuldades internas. Tem sido argumentado que nenhuma ideia consistente deles pode ser formada, e que quando estendemos as noções de potência ou poder e conhecimento ao infinito e nos comprometemos a concebê-los em termos absolutos ou incondicionais, sempre caímos em paradoxo e confusão. Estou inclinado a pensar que quaisquer termos que têm um uso persistente e comum também têm ou adquirem gradualmente um significado, e que, se tivermos em mente o contexto em que são caracteristicamente empregados, geralmente encontraremos uma ideia que não é nem vazia nem vazia. inconsistente. Pretendo isso, no entanto, menos como uma “teoria” do que como um princípio heurístico de interpretação ao qual somos livres para admitir exceções em casos particulares. Como observou R. B. Perry: Deus concebido como perfeição reflete a experiência de imperfeição do homem. Praticando e sofrendo injustiças, o homem sonha com a justiça perfeita; sendo ao mesmo tempo odioso e vítima do ódio, ele sonha com o amor absoluto e universal; sendo ignorante, ele concebe a onisciência; em meio à feiúra e à monotonia da vida, ele imagina uma perfeição de beleza; de sua infelicidade surge uma visão de felicidade perfeita e ininterrupta. A questão é que a “onisciência” representa principalmente a superação de nossa própria privação de conhecimento ou, antes, a superação ideal dessa privação. Como tal, significa um ideal de capacidade de conhecimento ao qual nós mesmos podemos concebivelmente aspirar e ao qual podemos nos aproximar infinitamente. interferências externas de qualquer tipo. Ambas as características são atribuídas a Deus como símbolos inversos e medidas de nossas próprias imperfeições e limitações. Alguns sustentam que os atributos metafísicos devem ser atribuídos a Deus em um sentido meramente analógico, com base no fato de que Deus é um ser tão diferente de nós mesmos. Para mim isso parece problemático, uma vez que Deus, concebido como um “Tu”, não pode ser absolutamente diferente de nós mesmos. Tais atribuições tendem a ser consideradas meramente analógicas quando reenfatizamos a distância entre nós e Deus. Resumidamente, se tais atribuições devem ser consideradas analógicas ou não, depende precisamente de como nós mesmos concebemos Deus, de quão próximo ou distante, semelhante ou diferente, ele nos parece ser. Mas isso dependerá, em todos os casos, das tensões particulares às quais a própria vida religiosa está sujeita. É minha alegação que um motivo primário para insistir no caráter “meramente” analógico ou mesmo metafórico de todas as atribuições como “onipotência” a Deus é a necessidade sentida de superar as inconsistências envolvidas no problema do mal. “poder” como meramente analógico ou metafórico parecemos, pelo menos, nos aliviar da necessidade de tratá-lo como um agente, como nós, que faz as coisas e que, portanto, é responsável, da maneira comum, pelo que faz. seja como for, Deus é apresentado, em toda a literatura bíblica, como alguém que age e como alguém que é apenas na forma de um ser ativo. para a humanidade. O próprio poder é essencialmente o poder de fazer algo, e alguém é poderoso na medida em que tem o poder de fazer e agir.
Assim, ao falar de Deus como “todo-poderoso”, está dizendo que o objeto de adoração, o santo, possui poder ou poder ilimitado, que tem poder sobre todos, especialmente sobre nós mesmos, e que nada tem poder sobre ele. E ao afirmar que existe um ser todo-poderoso ou onipotente, está dizendo que existe algo cuja natureza é agir e cujo poder é irrestrito. Quanto ao atributo da onisciência, certamente é um erro radical restringir seu significado dentro do contexto religioso de acordo com os preconceitos de alguma teoria especial do conhecimento, como o empirismo ou o racionalismo. quebra-cabeças e antes que eles tentassem estabelecer critérios específicos de capacidade de conhecimento. No que diz respeito à religião, acho que basta dizer que um ser onisciente saberia tudo o que há para saber, e que, assim como a Onipotência não é esperada por homens sensatos para fazer o impossível, então não se espera que a Onisciência saiba mais sobre o impossível do que isso. O que é logicamente incognoscível não poderia ser conhecido nem mesmo por um ser onisciente. Tal ser não saberia quadrar o círculo; pelo contrário, saberia com clareza ofuscante que o círculo não pode ser quadrado. Portanto, se alguém afirmasse que um ser onisciente entenderia como a injustiça pode ser justa ou como o mal pode ser bom, nosso melhor recurso seria simplesmente encará-lo. no futuro, temos apenas que considerar se alguém pode dizer corretamente que algo vai acontecer no futuro. Um ser onisciente saberá tudo o que há para saber sobre o futuro; e se o futuro não pode ser conhecido, então nem mesmo um ser onisciente poderia conhecê-lo. Como a onisciência pode surgir é uma questão interessante, mas acho que não precisamos considerá-la. Dificilmente nos cabe perguntar como a divindade pode ter entrado em sua linha de trabalho. Nem precisamos considerar aqui se existe um ser onisciente e onipotente. Pois ao lidar com o problema do mal, estamos preocupados com uma situação em que certas proposições já foram premissas e que, para os envolvidos, são aceitas pela fé.
IV
A segunda parte da tese teológica pode ser chamada de afirmação moral. O que ela afirma é que existe um ser todo-poderoso e onisciente que também é uma pessoa perfeitamente boa. Mais especificamente, afirma que tal ser é tanto uma pessoa quanto um bem-bom da mesma forma que uma pessoa o é. Para os propósitos atuais, será desnecessário considerar as muitas outras maneiras pelas quais Deus pode ser bom, uma vez que elas não estão diretamente envolvidas no problema do mal. Muitas pessoas, sem dúvida, desejarão dizer que Deus é bom não apenas no modo como as pessoas podem ser boas, mas também no modo como as coisas belas são boas. estético do que moral. Mas o teísmo tradicional, embora tenha seu aspecto estético, está mais fundamentalmente preocupado com a justiça e benevolência de Deus do que com seu esplendor. Agora, não há conexão lógica entre os atributos metafísicos e os atributos morais. Logicamente, não há razão para que um ser todo-poderoso e onisciente não seja um fedorento perfeito. Tampouco é logicamente impossível que tal ser possa ser adorado como Deus, mesmo que lhe sejam negados os atributos de uma pessoa boa. A noção de um Deus de puro poder não é atraente, mas é concebível. Mas a partir de Gênesis, a bondade do ser todo-poderoso é constantemente reiterada, e mesmo o imponderável “eu sou o que sou” implica claramente pela presença do pronome de primeira pessoa que seja o que for, “o ser” não é concebido como uma mera coisa. Não é difícil atenuar a personalidade de Deus, e aqueles que o livrariam da responsabilidade pelo mal provavelmente serão atraídos por esse caminho para sair de suas perplexidades. Mas eles fazem isso a um preço que é maior do que o monoteísmo tradicional geralmente está disposto a pagar. O termo “bom”, como todos sabem agora, é um termo geral de elogio e elogio. Ao usá-lo, normalmente realizamos o que o professor John Austin chama de “ato ilocucionário”. Ou seja, ao dizer que algo é bom, estamos fazendo algo com palavras, e neste caso o que estamos fazendo é elogiar ou elogiar a coisa em questão de alguma forma. Elogios comuns, é claro, são sempre qualificados e, no contexto, pressupõem algum padrão em relação ao qual o elogio é feito. Temos aqui apenas a bondade moral e, portanto, o louvor ou elogio moral, pois estamos considerando Deus apenas como alguém que age e cujos méritos são os de uma pessoa boa. A noção de personalidade, o que é ser uma pessoa, é mais elusiva e mais ambígua do que a de bondade, e os filósofos contemporâneos têm dedicado muito menos atenção à sua análise. esse termo é usado por psicólogos empíricos, como o professor Allport, quando falam da “psicologia da personalidade” a psicologia, ou seja, de caráter e temperamento individual. Conforme empregado na ética e na teologia, a personalidade não é uma característica empírica como verde ou quente; nem é exaustivamente definível em termos de características empíricas. Ser uma pessoa, como ser uma obra de arte, é uma concepção funcional que tem a ver com uma maneira característica de tratar ou lidar com a coisa em questão. de “tratar uma pessoa como tal” ou de “tratar uma obra de arte como tal”, e há sempre um sentido, logo entendido, em dizer que algo deve ser tratado como uma obra de arte ou que alguém deve ser tratado como uma pessoa. Mas se fosse afirmado que uma montanha, uma tempestade ou um objeto verde deveriam ser tratados como tal, ou se alguém falasse em “tratar uma montanha como tal”, o ponto da observação não seria prontamente compreendido e nós ser obrigado a perguntar ao falante o que diabos ele quis dizer com isso. Não é que as montanhas não possam ser tratadas de várias maneiras; pelo contrário, esse é apenas o problema: as montanhas podem ser tratadas ou tratadas de inúmeras maneiras de acordo com nosso próprio interesse ou prazer. de uma montanha como tal requer. No sentido em questão, portanto, as atribuições da personalidade diferem radicalmente das descrições das características empíricas das coisas. Ao falar de alguém como pessoa, estamos atribuindo a ele uma certa função, papel ou status e conferindo-lhe o título de personalidade que acompanha essa função, papel ou status. E, ao nos dirigirmos a alguém como pessoa, estamos lidando com ele nesse papel e estabelecendo com ele as relações que tal papel pode prescrever. Nesse sentido, uma relação pessoal não consiste nas inúmeras relações ad hoc que as pessoas têm umas com as outras, mas sim na classe restrita de relações que são prescritas pelo papel e que podem afetar o status dos indivíduos envolvidos. como pessoas.
Pode-se dizer que um relacionamento pessoal falhou quando as partes nele são corretamente acusadas de falhar em suas responsabilidades mútuas como pessoas. Se falhar absolutamente, então, pelo menos no que diz respeito aos próprios indivíduos, sua própria existência como pessoas é posta em perigo. Como em outras esferas, o repúdio ao papel significa abandonar as responsabilidades que acompanham o papel e vice-versa. Portanto, não é uma questão vã se alguém é uma pessoa ou se nós mesmos temos uma relação pessoal com ele. Pois da resposta depende a validade da atribuição a ele de todo um sistema de direitos e responsabilidades. A negação de um relacionamento pessoal não envolve a cessação de todo trato por parte dos indivíduos envolvidos. Mas equivale ao repúdio ativo de compromissos específicos de lidar e ser tratado de certas maneiras características. Em suma, já está embutida na noção de personalidade uma função normativa característica que prescreve um certo comportamento para com aqueles a quem a personalidade é atribuída e que ao mesmo tempo lhes imputa certas capacidades e responsabilidades. Existem, é claro, muitos tipos de personalidade, cada um carregando um papel e um status distintos. As pessoas jurídicas são, portanto, distinguíveis das pessoas morais essencialmente pelas diferentes prerrogativas e responsabilidades que acompanham seus respectivos papéis. Os direitos e responsabilidades das pessoas jurídicas são definidos por lei, podendo ser alterados conforme a lei exigir. Os direitos e responsabilidades associados às pessoas morais pertencem à agência moral como tal, e eles mudarão de acordo com as modificações em nossa concepção do agente moral. Em nosso sistema, eles incluem, acima de tudo, o direito ao julgamento e escolha independentes, e a responsabilidade recíproca de julgar desinteressadamente e escolher de acordo com princípios de ação correta que são igualmente obrigatórios para todas as pessoas. Toda pessoa moral é passível de louvor e censura moral. De fato, qualquer pessoa a quem se reivindique a personalidade moral está ipso facto sujeito a elogios e censuras morais como uma pessoa “boa” ou “má”, uma vez que tal elogio ou censura equivale à afirmação de que ele cumpriu ou falhou em suas responsabilidades como uma pessoa. Qualquer um que se exime de suas responsabilidades morais, assim, merece ser elogiado como uma pessoa boa, e qualquer um que não o faça merece ser censurado como uma pessoa má. Caso se argumente que uma determinada pessoa não está, em princípio, sujeita à crítica moral, isso equivaleria a dizer que ela não pode ser acusada de responsabilidades morais. Da mesma forma, remover completamente um indivíduo da esfera da possível reprovação moral é, até agora, deixar de considerá-lo um agente moral e, portanto, uma personalidade moral. Se assim for, parece impossível falar de um todo-poderoso e onisciente como uma pessoa boa sem tratá-lo em algum grau como um agente moral e, portanto, em princípio, sujeito à culpa a que os agentes morais são responsáveis. E na medida em que nos dirigimos a tal ser como uma pessoa ou como um “tu”, automaticamente o tratamos como um agente a quem certas obrigações são devidas e de quem o cumprimento das obrigações correspondentes pode ser esperado. Pode haver razão para negar que tal ser possa ser razoavelmente considerado dessa maneira. Assim, pode-se argumentar que seria inútil se dirigir a um ser todo-poderoso como se dirige a mortais comuns que estão sujeitos à nossa censura como agentes morais. Como, pode-se perguntar, podemos pensar razoavelmente em tal ser como devedor de alguma forma a nós? Não é meu propósito aqui avaliar os méritos de tais argumentos e questões. Sustento apenas que, se, por qualquer motivo, tentássemos colocar tal ser totalmente além do bem e do mal morais, o efeito seria, no que nos diz respeito, aliviá-lo de certos atributos de personalidade e assim torná-lo é impossível abordar o ser, com uma cara séria, como um “tu”. Assim, na medida em que somos impelidos a dizer que a “justiça” de tal ser não tem nada a ver com nossos padrões de justiça ou somos levados a enfatizar a “mera” analogia entre sua “bondade” e aquilo que atribuímos a mortais comuns, quando os consideramos agentes morais, atenuamos radicalmente seu status como pessoa e colocamos em risco quaisquer reivindicações morais que possam ser alegadamente impostas a nós mesmos. Por outro lado, podemos falar, se quisermos ou devemos, “do Todo-Poderoso a quem todo louvor é devido”; mas se o fizermos em um sentido que tenha algum significado ético, tornamos possível falar também do “todo-poderoso a quem toda culpa é devida”. Uma “pessoa santa” não significa a mesma coisa que uma “pessoa moral”. Uma pessoa santa é aquela que tem direito, como tal, à devoção ou consideração religiosa, e para quem o status de santidade é reivindicado.
Uma pessoa moral torna-se uma pessoa religiosa e o “tu” moral torna-se um “tu” religioso apenas na medida em que o primeiro é considerado algo que deve ser tratado com reverência – isto é, na medida em que seus princípios, sua conduta e suas volições não são meramente louváveis. , no sentido moral, mas também santo ou divino. Certas pessoas, como Jesus, são consideradas moralmente exemplares por muitos que nem sonhariam em considerá-las divinas. Por outro lado, é concebível que algo possa ser tratado como uma pessoa santa sem ao mesmo tempo ser considerado uma boa pessoa no sentido moral. Também é logicamente possível que as atribuições de personalidade moral possam ser derrotadas sem que isso implique a derrota das atribuições de santidade ou divindade. No caso de religiões éticas como o monoteísmo ocidental, as relações da personalidade religiosa com a personalidade moral estão longe de ser simples. Uma certa tensão entre a personalidade santa e a personalidade moral de Deus está fadada a ocorrer na medida em que se é obrigado a tratar como santos princípios ou ações que, por sua própria conta, possam parecer reprováveis. Sem dúvida, a personalidade moral de Deus deve ser concebida como derivada ou dependente de sua santa personalidade. Mas por causa disso, a santa personalidade de Deus é posta em perigo quando sua perfeição como pessoa moral é impugnada. É, portanto, perfeitamente compreensível que certos teólogos monoteístas tenham procurado tratar a santidade de Deus todo-poderoso como algo que transcende absolutamente sua personalidade moral. No entanto, uma ênfase muito enfática na transcendência absoluta do eu santo de Deus está fadada a resultar em uma tendência à secularização da moral e, portanto, em uma circunscrição radical do domínio do próprio religioso. Tais tendências são claramente discerníveis em Kierkegaard e até, às vezes, em Martin Buber. Por outro lado, a identificação da santidade de Deus com sua justiça e sua lei pode resultar na derrota da fé nele como um ser divino, quando a validade de sua justiça e de sua lei é colocada em questão. Se sua divindade pode fornecer a garantia de sua sabedoria, então, por sua vez, a autenticidade de sua sabedoria tende a se tornar um critério de sua divindade. Esse perigo é inerente a toda religião ética, e nenhuma manobra puramente dialética o removerá permanentemente.
V
A parte mais crucial da tese teológica é aquela que afirma que a única pessoa todo-poderosa, onisciente e perfeitamente boa é Deus. Chamarei isso de reivindicação religiosa. O mais importante a ser dito sobre isso é que a palavra “Deus” funciona ao mesmo tempo como um nome santo e como um título que serve para divinizar o que lhe é conferido. O verbo ativo “deificar” é esclarecedor nesse sentido precisamente porque destaca o fato de que, ao chamar algo de “Deus”, estamos dando a ele um nome santo e conferindo-lhe os estados de divindade. Ou, para colocar a questão de outra forma, ao falar de algo como “Deus”, estamos usando um nome que ao mesmo tempo o investe das prerrogativas, responsabilidades e reivindicações sobre nós mesmos a que esse nome lhe dá direito. A aparente circularidade nesta análise é removida quando se observa que ao deificar algo estamos tratando-o como um objeto que é sagrado, digno de nossa adoração e reverência. Se algum ser é Deus, então, por definição, é digno de ser adorado e deve ser adorado. Por isso, aqueles que não adoram aquele ser que é Deus são ipso facto condenáveis ou censuráveis. É também por esta razão que o ateísmo não é geralmente considerado pelos piedosos como uma posição filosófica ou teológica entre muitas, mas como uma atitude perversa ou pecaminosa. Ateísmo não é a mesma coisa que a negação de que existe um ser todo-poderoso. Alguém é ateu, no sentido estrito, apenas se afirma que não há Deus, ou seja, nenhum ser que seja santo ou digno de adoração. Para reforçar a validade desta análise, deixe-me chamar a atenção para a diferença essencial entre o significado de “Deus” e o de “deus”. A palavra “deus” não é um nome sagrado, e sua aplicação a qualquer ser não traz consigo nenhuma reivindicação titular. Pode ser usado por qualquer pessoa sem a menor sugestão de blasfêmia ou impiedade. É, de fato, impossível tomar o nome “deus” em vão, pois não é um nome, mas, como “gato” ou “árvore”, um mero substantivo comum. Não há nada censurável em negar a existência de um deus ou em se recusar a adorar um deus, pois não há nada intrinsecamente venerável no ser de um deus.
VI
Temos agora que considerar as teses teológicas como um todo. Se estou certo, não há contradição lógica em aceitar qualquer uma das três principais alegações incorporadas na tese e negar o resto. Pode-se aceitar a afirmação metafísica sem aceitar a afirmação moral ou religiosa; e pode-se aceitar as reivindicações metafísicas e morais sem necessariamente aceitar a reivindicação religiosa. Em princípio, também seria possível aceitar a afirmação puramente religiosa de que Deus existe ou de que existe um ser que é Deus sem, com isso, aceitar as afirmações metafísicas ou morais. Em resumo, não é logicamente necessário que Deus seja todo-poderoso e onisciente ou mesmo uma pessoa perfeitamente boa, e não é necessário que um ser todo-poderoso ou mesmo uma pessoa perfeitamente boa seja Deus. Para o monoteísta comum, no entanto, tais possibilidades lógicas não são teologicamente concebíveis, ou pelo menos parecem não ser assim até que o problema do mal seja confrontado. Assim considerada, a tese teológica pode ser chamada de “síndrome monoteísta”. Diante dessa síndrome, Deus “deve” ser visto como uma pessoa todo-poderosa, onisciente e perfeitamente boa, e inversamente, se existe uma pessoa onipotente, onisciente e perfeitamente boa, essa pessoa tem o direito de ser chamada de Deus. Qual é, logicamente, a importância dessa síndrome? Certamente não é uma verdade analítica. Nem é, como tal, uma declaração de fato comum. É mais esclarecedor comparar sua função com a dos princípios morais. Agora, como todos sabem, é sempre logicamente possível questionar se a felicidade ou o prazer são bons. O uso comum de “bom” permite a possibilidade de tal pergunta, e aqueles que falam de “bem” e “felicidade” ou “prazer” como sinônimos estão simplesmente enganados. Para o hedonista ético, no entanto, não é moralmente possível perguntar se o prazer por si só é bom. Para ele, embora “prazer” e “bem” não signifiquem a mesma coisa, o prazer ainda é tido como o único bem intrínseco, a única coisa, portanto, que deve ser desejada por si mesma. Não é muito útil falar de princípios éticos como um princípio sintético. Se fôssemos, por assim dizer, deles, seria apenas para enfatizar que é um erro tratá-los como tautologias ou como atribuições contingentes de valor. Para aqueles que o aceitam, o princípio da maior felicidade não é nada analítico; nem sua validade pode ser estabelecida pela inspeção do significado das frases em questão. Tomada como um princípio, ela serve, antes, para prescrever o padrão de ação correta que deve ser usado para justificar determinadas máximas de conduta. Quando se aceita, exclui-se, por princípio, a contingência de que um prazer particular não seja intrinsecamente bom, como dizemos, e a possibilidade moral de que uma ação correta não conduza à maior felicidade exclui a priori de nossos cálculos morais. Tal concepção de princípios morais fornece uma analogia útil, penso eu, para interpretar a síndrome monoteísta. Para o monoteísta, ela funciona, com efeito, como um princípio religioso que antecipa o santo nome e título de “Deus” para o ser todo-poderoso, onisciente e perfeito. Isso, eu acho, explica o grão de verdade implícito na visão de R. M. Hare de que as teses teológicas não são falsificáveis. Para ser franco, eles não são falsificáveis apenas porque são tratados assim; porque, isto é, a pessoa que as aceita recusa, por princípio, considerar seriamente qualquer outra alternativa e porque recusa admitir a contingência de que possam vir a ser falsas. Mas agora vou parecer me contradizer. Pois eu gostaria de dizer que enquanto o monoteísta convicto considera a tese teológica como um princípio que não é falsificável, ainda assim não é, na prática, absolutamente inquestionável, mesmo para ele. Aqui, confesso, me encontro a precisar de palavras. Mas é necessário insistir, mesmo correndo o risco de aparente contradição, pois isso nos leva, como acredito, ao próprio cerne das perplexidades espirituais com as quais temos que lidar aqui. É significativo, a esse respeito, que não digamos tão naturalmente que uma tese teológica é provada ou refutada como aqueles indivíduos particulares têm fé ou a perdem, e estão sujeitos à conversão e apostasia. E é relativamente à nossa fé ou falta de adequação, nossa conversão para ou desconversão de uma tese teológica, que podemos dizer que ela é, em certo sentido, revogável religiosamente. De qualquer forma, ao falar aqui da invalidabilidade de uma tese teológica, quero dizer que com relação a ela estamos sujeitos a conversão ou desconversão e que nossa fé nela, apesar do fato de que podemos mantê-la acima de qualquer dúvida, pode na verdade ser derrotada por considerações que, como Mill diria, são capazes de influenciar a mente. Às vezes se pensa que a fé e a conversão, embora sujeitas a causas, são impermeáveis às razões; e que, embora possam ter, por assim dizer, uma lógica psicológica, não têm lógica.
Isto simplesmente não é verdade. Pascal, o arqui-fideísta, afirmou que o coração tem razões que o intelecto desconhece, mas ainda afirmava, significativamente, que o coração tem razões, não que esteja sujeito a causas. Prefiro dizer que a fé, embora talvez não tenha razões, está sujeita a razões, e pode ser enfraquecida ou derrotada por razões, bem como fortalecida ou confirmada por elas. É nesta luz, penso eu, que as provas da existência de Deus devem ser entendidas do ponto de vista religioso: elas não são realmente provas, mas, para aqueles que as aceitam, confirmam evidências de uma fé que ainda poderia ser sustentada sem elas. Assim, embora, apesar de Spinoza, não haja Q.E.D.s no domínio da religião, ainda há razões, e as razões podem preparar o caminho para uma conversão, bem como uma experiência mística, uma dose de gás hilariante ou uma série de leituras responsivas de Os Irmãos Karamazov. O processo de conversão seria irracional se a síndrome monoteísta fosse adquirida apenas como efeito de uma experiência mística ou de uma leitura de Dostoiévski, assim como a desconversão da síndrome seria irracional se, numa bela manhã, simplesmente se acordasse sem ela. Uma desconversão racional ocorre em consequência de uma cuidadosa reflexão sobre as razões práticas que se encontram inescapavelmente para militar contra ela. Não se pode pensar, a esse respeito, em razões necessárias ou suficientes, mas apenas em boas razões que os religiosos se vêem obrigados a levar em conta. O que deve ser considerado uma boa razão não é algo que possa ser codificado para nós pelos teólogos. É algo que, na prática comum, é reconhecido por pessoas reflexivas comuns, dentro de uma tradição comum, como relevante. Além de uma forma de vida comum e tradicional que é aceita como normativa pela maioria das pessoas dentro de uma cultura, a noção de uma boa razão não teria significado. Tomada como um todo, então, a síndrome monoteísta não pode ser entendida como uma hipótese especulativa; não é uma “teoria” no sentido científico ou mesmo no sentido metafísico. boa pessoa. Mas eles são. também impedido pela própria reivindicação religiosa. Ao defender a tese teológica, como gostaria de colocá-la, não estamos tanto afirmando algo sobre a natureza das coisas, mas expressando certas atitudes reguladoras em relação à natureza das coisas. Da mesma forma, rejeitar a tese teológica não é simplesmente negar uma hipótese metafísica sobre as origens das coisas, mas, mais claramente, repudiar o modo de vida que a síndrome monoteísta prescreve.
VII
Estamos agora em condições de considerar o significado das soluções para o problema do mal. Ao nos voltarmos para eles, devemos enfatizar novamente que o que temos a ver aqui é um problema prático, ou existencial, de fé e moral que é apenas secundariamente preocupado com questões de fato. A inconsistência entre a tese teológica e a tese ética representa um conflito de atitudes em relação à realidade e a conduta de vida, e não uma contradição em nossas crenças sobre a natureza do que existe. Portanto, a questão de remover tal inconsistência diz respeito essencialmente à possibilidade de um sistema consistente de sentimentos religiosos e morais, e não à possibilidade de uma teoria consistente sobre a natureza das coisas. Em princípio, há muitas maneiras de buscar alívio do problema do mal. Alguns deles envolvem principalmente alguma modificação da tese teológica. Outros envolvem uma modificação da tese ética. Seja qual for o caminho tomado, o resultado inevitável será uma modificação do modo de vida da pessoa envolvida Consideremos primeiro aquelas formas de alívio que não implicam uma rejeição direta da tese ética. Algumas delas envolvem uma desconversão radical da síndrome monoteísta e, portanto, a adoção de uma atitude muito diferente em relação ao objeto da fé religiosa; outras envolvem mudanças de um tipo mais limitado. A maneira menos radical de aliviar o problema do mal é encontrar, ou fazer, alguma desculpa para a existência do mal que modifique a responsabilidade de Deus por ele. Mas se assim for preferível ,já que parece deixar a síndrome monoteísta razoavelmente intacta, também é muito mais difícil de convencer precisamente por causa das alegações sobre a natureza de Deus. Deve-se ter em mente também que uma coisa é propor uma desculpa e outra aceitá-la. Nenhuma proposta funciona como uma desculpa, a menos que alguém seja preparado para aceitá-lo. Uma desculpa proposta não é desculpa, não mais do que um mera hipótese é uma declaração de fato. Além disso, encontrar uma desculpa é algo muito diferente de encontrar uma nota de dez dólares ou uma cura para o câncer. Não envolve olhar para um determinado lugar, nem é como fazer um palpite de sorte sobre correlações causais que podem ser confirmadas pela observação. Onde não há questão de elogio ou culpa, não pode haver questão de inventar ou encontrar desculpas. E onde há uma questão de desculpas, há também a questão de elogios e censuras. Uma desculpa válida ou aceitável serve para impugnar a legitimidade da culpa ou para sustentar a legitimidade do elogio. Desculpas inválidas formalmente deixam em aberto a questão se o elogiador ou a culpa são justificados. . Existem, penso eu, quatro formas principais de dar desculpas a uma pessoa: (a) mostrando que o ato em questão era inevitável; (b) mostrando que, embora o ato fosse evitável, é justificado em vista de suas consequências; (c) transferindo a responsabilidade, no todo ou em parte, para outra pessoa; Agora, dadas as suposições da tese teológica, é difícil ver como uma desculpa plausível do primeiro tipo poderia ser feita para Deus. Aparentemente, ele não pode ser desculpado em razão de ignorância ou incapacidade. relacionamento religioso e moral do homem com Deus. Por exemplo, pode-se argumentar, à maneira de Leibniz, que qualquer universo criado por Deus deve ser o melhor de todos os mundos possíveis e que, para quaisquer males que existam, deve haver, a priori, uma razão atenuante suficiente. Logicamente e talvez metafisicamente Deus poderia ter criado algum outro estado de coisas, mas como ele é um ser perfeito, é teologicamente impossível que ele crie qualquer outro universo além do que existe. Se Deus existe, em suma, seu ato de criar este universo é inevitável. O efeito de tal desculpa, no entanto, é simplesmente reafirmar a benevolência absoluta de Deus – que é o próprio ponto em questão. Ela esclarece a aspiração do monoteísta, mas não necessariamente remove seus escrúpulos morais de que o mundo está eticamente desconjuntado. Se, como Pangloss, ele consegue aceitar a desculpa, ele deve agora ver os males do mundo sob uma luz tão fundamentalmente diferente que toda a sua atitude consciente em relação a eles é virtualmente transformada. avançar o que quer que aconteça para existir como algo que é ao mesmo tempo inevitável e bom.
Não comentarei aqui os méritos do quietismo e otimismo implícitos em tal visão. Mas é duvidoso que alguém profundamente envolvido no problema do mal o ache facilmente aceitável. Inicialmente, o segundo tipo de desculpa pode parecer mais promissor, principalmente se nos restringirmos à questão do mal moral. Assim, pode-se argumentar que, embora Deus possa ter uma certa responsabilidade colateral pelo mal moral, uma vez que concedeu liberdade ao homem sabendo de antemão que uso o homem faria (talvez provavelmente) dele, a liberdade moral é, no entanto, um bem tão grande que supera qualquer males que podem acompanhá-lo. Em suma, a bondade de Deus é salva alegando que o ato de Deus, ao criar o homem como moralmente livre, tem boas consequências que superam todas as consequências reconhecidamente más, e que embora ele compartilhe, em certo sentido, a responsabilidade pelo mal moral, sua bondade como pessoa não é ser impugnado. Essa desculpa é interessante porque compromete quem a oferece não apenas ao valor intrínseco da liberdade moral, mas também, comparativamente, à insignificância da felicidade, dos valores estéticos e, de fato, de todos os bens que costumam ser classificados sob o título de “bem-estar”. Mas, novamente, é uma questão se os homens de boa consciência ordinária serão capazes de assumir esse compromisso. Se o fizerem, outra profunda mudança ocorrerá sem dúvida em seu esquema de valores. Deve-se notar, no entanto, que tal desculpa não toca a questão do mal natural, incluindo os males involuntários que pessoas inocentes são obrigadas a sofrer em conseqüência dos atos malignos de outros. Aqui, pode-se imaginar, aqueles afligidos por um sentimento de estranhamento ou abandono (Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste) ou indignados com os sofrimentos “indesculpáveis” de seus entes queridos provavelmente não serão edificados por qualquer tentativa de mostrar o bem maior inerente às consequências desses males. Sem dúvida, há quem considere tal justificativa do mal moral como defeituosa precisamente porque, embora retire Deus da culpa, não o remove inteiramente da responsabilidade. Deste ponto de vista, enquanto Deus for considerado responsável de alguma forma pelo mal moral, nossa fé nele é imperfeita e nosso próprio senso de liberdade e responsabilidade moral é incompleto e imaturo. e culpa por nossos atos, e que o ato de Deus, ao nos tornar livres, não tem nada a ver com nossas más escolhas. Qual é o significado espiritual de tal visão? Agora, em circunstâncias comuns, quando uma pessoa é totalmente isenta de responsabilidade por um determinado ato, sua conexão ética com ele cessa, e qualquer questão de elogio ou censura até agora desaparece. Eticamente, por assim dizer, ele se torna irrelevante para isso. Se, então, só nós devemos ser responsabilizados por nossas ações, se nossa responsabilidade não pode ser compartilhada, então não apenas qualquer culpa, mas também qualquer elogio é somente nosso. fazer coisas más? Se ele não tem mão no mal, como então se pode dizer consistentemente que ele tem uma mão no bem? Quando cometemos assassinato, então o pecado é nosso. bem? Nesse caso, porém, qualquer relação ética recíproca entre nós e Deus tenderia a desaparecer. Da mesma forma, torna-se cada vez mais difícil ver como ele ainda pode ser tratado como um “Tu” a quem somos de alguma forma moralmente obrigados. A maneira mais radical de isentar Deus da responsabilidade pelo mal é simplesmente fazer uma exceção a ele. Esse tipo de coisa é feito na vida comum quando alguém é perdoado por um ato errado que cometeu. com ela responsabilidades não-morais que, nas circunstâncias, são consideradas preponderantes. Se tal desculpa fosse feita, por qualquer motivo, no caso de Deus, sem dúvida envolveria uma modificação da síndrome monoteísta e com ela uma modificação do sentido em que o monoteísmo ainda poderia ser considerado uma religião ética. mas não sem prejudicar o valor de Deus para nós como um ser eticamente exemplar, e não, portanto, sem diminuir nosso senso de responsabilidade para com ele. Em geral, qualquer forma de teodiceia, cujo objetivo é justificar os caminhos de Deus para o homem, está fadada a parecer implausível para qualquer um que tenha uma percepção avassaladora dos males naturais que abundam no mundo, e que, na melhor das hipóteses, serve apenas para atenuar a responsabilidade de Deus pelo mal moral.
Mesmo assim, a consequência de ter que dar desculpas para Deus – para “salvar sua face”, por assim dizer – é pôr em risco nosso próprio senso de obrigação para com ele e tornar sua bondade inoperante como um ideal moral. Religiosamente, o ser todo-poderoso ainda poderia ser concebido como Deus, mas não seria mais visto como a fonte da bondade moral e como o ser a quem, no sentido moral, “todos os louvores são devidos”. Resumidamente, a teodiceia quase sempre aumenta a sensação de distância entre o homem e Deus, e o afastamento da vida moral da vida de adoração religiosa. Também pode, em algumas pessoas, reforçar um sentimento de complacência, resignação, inevitabilidade; mas eles são precisamente aqueles que são menos propensos a serem afetados pelo problema do mal. Por outro lado, aqueles que são afetados pelo problema são mais propensos a serem repelidos pelas desculpas médicas. de seu senso de dignidade pessoal, exceto a liberdade nua – de continuar pecando. Restam várias outras maneiras de aliviar Deus da responsabilidade diante do mal, mas todas são mais drásticas, pois envolvem uma modificação mais radical na concepção da natureza de Deus e, portanto, nas atitudes possíveis em relação a ele. Todas essas formas de superar o problema do mal envolvem uma ruptura fundamental da síndrome monoteísta ou, o que dá no mesmo, uma atenuação fundamental da fé monoteísta tradicional. Tampouco podem ser efetuadas sem, em alguma medida, incorrer na responsabilidade pela desconversão do monoteísmo. A saída mais radical, mas de certa forma mais fácil, é renunciar a um ou mais dos atributos atribuídos a Deus pela reivindicação metafísica. Pode-se deixar de sustentar que Deus é todo-poderoso ou onisciente, ou, o que dá no mesmo, pode-se deixar de considerar a onipotência ou onisciência como atributos necessários de santidade, daquilo que é digno de piedade ou adoração. o problema do mal é aliviado automaticamente, uma vez que um Deus que não é todo-poderoso ou que não é onisciente não incorre em responsabilidade por males que ele pode não ter antecipado ou não poderia fazer nada para evitar. Abandonar a pretensão metafísica, entretanto, não requer a renúncia da fé na bondade de Deus; nem impede de ainda adorá-lo como o santo dos santos. Mas afeta nossas atitudes e atos de fé de outras maneiras importantes. Pois enquanto Deus ainda pode ser adorado, as reivindicações não podem mais ser endereçadas a ele de forma inteligível e, pelo menos em um sentido, orar a ele torna-se correspondentemente inútil. Mas, mais gravemente, o sentimento de dependência absoluta de Deus tende a desaparecer e, à medida que se percebe que a melhoria da própria sorte depende, não apenas da Graça, mas de seus próprios esforços, Deus deixa de aparecer na forma de um pai todo-poderoso e se torna uma espécie de irmão que tem seus próprios problemas com o mal, assim como você e eu. Eu, por exemplo, respeito aqueles teólogos contemporâneos que aceitam candidamente a noção de um Deus finito. Se tais teologias finitas ainda estão envolvidas em graves dificuldades metafísicas, elas pelo menos permitem que o crente preserve sua integridade moral e sua devoção religiosa a um Deus que pode ser encarado com uma cara séria como uma boa pessoa. são possíveis, no entanto, apenas para homens de grande maturidade e estabilidade emocional para quem, por assim dizer, o trauma do nascimento foi em alguma medida superado. Eles não são atraentes para aqueles para quem a piedade religiosa é possível apenas na medida em que as necessidades de dependência emocional são satisfeitas. Outra maneira de aliviar o problema do mal é qualificar ou desistir completamente da reivindicação moral relativa à bondade de Deus. Para alguns, para quem religião significa religião ética, tal possibilidade pode parecer repugnante, mas logicamente não há nada que se oponha a ela. Não há conexão lógica entre as reivindicações metafísicas e morais da tese teológica, e é inteiramente possível considerar um ser onisciente e todo-poderoso como Deus sem investi-lo com os atributos de uma pessoa perfeitamente boa. a autonomia da vida moral deve agora tornar-se uma realidade. Assim, embora os “mandamentos” de Deus ainda possam ser obedecidos, a obediência a eles não é mais uma consequência da fé ou, para dizer o mesmo, eles são obedecidos não porque Deus os ordena, mas porque eles são considerados justos e bons por si mesmos, independentemente do fato de que ele ordene. eles. Desse ponto de vista, a vida religiosa agora se desvincula totalmente da vida ética, com consequências incalculáveis para ambas. Agora, o apelo à vontade de Deus não pode mais ser usado na justificação de um princípio moral ou na atenuação de uma prática que, por outros motivos, poderia parecer perversa ou nefasta.
Deve-se confessar, além disso, que a deificação dos atributos metafísicos como tais provavelmente parecerá repugnante a uma consciência moral comum, e que uma vez que a bondade de Deus como pessoa tenha sido efetivamente desafiada, todo o interesse em seus atributos metafísicos provavelmente entrará em colapso. A maneira mais drástica de sair do problema do mal é abandonar completamente a crença em Deus – isto é, a crença de que existe algo digno de adoração. Mas essa maneira de colocar o assunto é ambígua. Pois pode-se renunciar à crença de que qualquer coisa real é digna de adoração, sem deixar de ter atitudes que possam ser consideradas religiosas. próprio adorador. Este não é o lugar para entrar em discussão detalhada dos conceitos de existência, realidade e ser. Há, no entanto, um sentido bastante próprio em que se pode dizer que há algo digno de adoração, ou mesmo que algo é Deus, sem ao mesmo tempo implicar com isso que há uma coisa ou uma pessoa que é Deus. algo “não significa” alguma coisa “, e a afirmação de que algo é digno de adoração ou de que algo é Deus não implica que haja uma coisa, uma substância, uma entidade real que é adorada ou Deus. a síndrome monoteísta que a acompanha, que consideraríamos – enganoso afirmar que existe um Deus, um objeto digno de adoração, ao mesmo tempo em que negamos que – existe alguma coisa ou pessoa que seja adoradora e para a qual nossa piedade seja devida E é só por isso que não tem sido costume os naturalistas, materialistas ou positivistas dizerem que acreditam em Deus ou que Deus existe. imitações da teologia ocidental que, com demasiada frequência, confunde o significado das chamadas religiões “ateístas” do Oriente. De um ponto de vista lógico, não há nada que impeça a possibilidade de uma pessoa afirmar sinceramente sua crença em Deus e, ao mesmo tempo, negar que Deus seja uma pessoa, uma substância ou uma coisa. Essa possibilidade sugere uma forma de modificar a própria síndrome monoteísta de modo a resolver, de uma vez por todas, o problema do mal. Assim, pode-se adotar a visão de que Deus, como tal, é completamente incognoscível e que, como tal, nenhum atributo positivo pode ser validamente imputado a ele. Deste ponto de vista, a natureza de Deus torna-se um completo mistério, e a adoração de “ele” como um “outro”, não nós mesmos, deixa de ser a adoração de uma pessoa todo-poderosa ou boa que cria o universo a partir de Sua infinita bondade e que dá ao homem os mandamentos pelos quais ele deve viver. Este é o movimento que tem sido feito, de vez em quando, por místicos “puros” e por homens de fé “pura”. Mas é uma forma de adoração ou adoração que é virtualmente desprovida de conteúdo e que, por fim, apenas se baseia em sua própria intensidade subjetiva. Não dizendo nada, não nos compromete com nada; não afirmando nada sobre Deus, despoja Deus de qualquer significado para a condução da vida. Ela resolve o problema do mal, mas apenas removendo totalmente a vida religiosa do contato com a vida moral e, portanto, da possível contaminação por ela. Precisamente porque vê Deus como totalmente transcendente, como dizem alguns teólogos, como pura “transcendência” em si, perde toda a relevância para os problemas comuns da ação humana. Tal, acredito, é no fundo a posição teológica de Kierkegaard. Mas os remédios espirituais que ele propõe são remédios desesperados que as pessoas comuns provavelmente não serão capazes de aceitar. O que resta do monoteísmo, quando aceito, é uma incógnita. Na verdade, não é à toa que o próprio Kierkegaard às vezes é chamado de “ateu”. Sem dúvida, algum precedente para isso pode ser encontrado na literatura bíblica. Mas certamente a tendência do que a maioria das pessoas considera monoteísmo bíblico é incompatível com ela, e certamente não é a visão de Deus que normalmente é nutrida em nossas igrejas e sinagogas.
VIII
Todas as formas anteriores de aliviar o problema do mal envolvem alguma adulteração da tese teológica e, portanto, algum grau de desconversão da síndrome monoteísta. Tradicionalmente, porém, o alívio tem sido freqüentemente buscado por meio de uma modificação das atitudes expressas pela tese ética de que algo no universo criado é mau. É esta saída que mais obviamente mostra como moral e religião podem entrar em conflito e como, por sua vez, os sentimentos morais podem ser modificados para atender às exigências da fé religiosa. A maneira mais drástica, se também a mais implausível, de lidar com o problema do mal desse ponto de vista é simplesmente negar completamente a tese ética. mal ele fala falsamente: o mal, isto é, é meramente aparente, e a visão comum de que coisas como terremotos, insanidade e câncer são males é ilusória. não atestar isso. De qualquer forma, é difícil para uma pessoa de fora ver como tal ponto de vista poderia ser consistentemente mantido na prática. não é algo que possa ser seriamente afirmado por qualquer um que tenha uma visão obscura da dor, da solidão e da crueldade. Nenhum judeu ou cristão comum, até onde posso ver, poderia entretê-lo por mais de um momento, pois torna a vida moral um absurdo. Se nada é mau, a escolha é inútil e a responsabilidade não tem sentido. Uma visão mais sutil envolve uma redefinição persuasiva do mal que o concebe como mera privação do ser. De acordo com essa visão, tudo o que é criado por Deus é bom e, portanto, digno de louvor. O mal, sem dúvida, é uma consequência necessária do ser finito ou criado, mas apenas de sua finitude, não de seu ser. Assim, na medida em que são, a dor, o sofrimento e a culpa são bons. O mal neles é apenas o de uma limitação ou privação. Nesse ponto, é fácil ficar enredado em uma teia de palavras. Estamos interessados aqui apenas no significado moral de tal visão, isto é, em sua relação com nossas atitudes espirituais em relação ao mundo e à conduta da vida. Formalmente, tudo parece permanecer como antes, pois, em certo sentido, ainda é possível dizer que algo é mau. Mas materialmente, uma mudança completa ocorre na vida moral. Assim, por exemplo, na medida em que a dor ou o sofrimento são fatos positivos da experiência, eles devem ser aprovados como bons, como algo, isto é, que deve existir e que deve ser suportado afetivamente ou, mais estritamente, regozijado. Nessa medida, a vontade de remover o sofrimento e erradicar a dor, bem como a convicção de que, simplesmente por si, a dor não deveria existir, devem ser encaradas como formas de impiedade. O homem que adora a Deus como bom e aceita Sua criação como parte de Sua providência divina, deve até agora aclamar a dor e o sofrimento como intrinsecamente bem. , embora enganosamente, como o mal. Estritamente, é apenas uma indicação ou sinal do mal; o que é mau é simplesmente a privação que o acompanha. Para muitos moralistas, o quietismo implícito nessa visão parece óbvio. Não é meu propósito aqui avaliá-lo do ponto de vista moral ou religioso. É, sem dúvida, a visão de muitos chamados santos, e aqueles que são tomados pela santidade, sem dúvida, serão atraídos por ela. Meu ponto é que não é uma posição eticamente neutra e que não deixa nossas atitudes morais comuns exatamente onde as encontrou. Estritamente falando, além disso, não pode ser considerado como uma solução final do problema do mal. Pois ainda suporta a afirmação de que algo, a saber, a privação do ser, é mau. De fato, do ponto de vista daqueles que se deparam com o problema do mal, a teoria da privação apenas força a questão para outro plano. O problema, agora, é justificar a própria criação, o que reabre a questão da teodiceia em sua forma mais radical. Pode-se argumentar que sempre foi possível para Deus escolher não criar absolutamente nada, e que se ele pudesse criar algo apenas trazendo o mal – ou a privação – ao mundo, ele não deveria ter criado nada. Aqui encontramos o problema do mal talvez em sua forma mais pungente e intratável. Pois mesmo que o indivíduo possa fazer as pazes com a dor e o sentimento de culpa moral, ele ainda pode achar a própria existência obsoleta, monótona e inútil, e ainda pode estar dividido entre seu desejo de amar a Deus e seu ódio incondicional ao mundo que Deus criou. . Aqui enfrentamos as mesmas questões implícitas na discussão do professor Tillich sobre o que ele chama de “a coragem de ser”.
É essencial ter em mente, porém, que a coragem de ser não é algo que possa ser exigido por pronunciamentos teológicos. Para aqueles que não têm esse tipo de coragem, o problema do mal não é minimamente aliviado ao apontar que o mal é uma consequência necessária da finitude e, portanto, de todo ser criado. Pois é o próprio mal da própria criação que está agora em questão. Por que algo deveria existir? Tal questão limitante não é sem sentido, mas não pode ser respondida pelos estratagemas da teodiceia. Ela pode ser respondida, se for o caso, apenas por uma mudança de coração. Mas quem pode dizer a outro que tal mudança de coração é boa? condena como mal muitas características positivas do ser criado, com a consequência de que sua fé na bondade de Deus continua a entrar em conflito com sua convicção de que, pelo menos, algumas das obras de Deus não deveriam existir.
IX
Até aqui, parti da tácita suposição de que o problema do mal é em si um demônio absoluto, algo que, pelo menos do ponto de vista lógico, é intolerável. , e especialmente uma inconsistência prática, é errado e deve ser superado. Isso significa, com efeito, que, como a maioria dos filósofos morais, tenho como certo que a autoconsistência e a integridade no domínio espiritual são a consumação mais devotamente desejada. Mas é? Por que a exigência de consistência deve ser considerada categórica ou ter precedência sobre qualquer outra exigência da vida moral ou religiosa? Dentro da própria esfera moral, frequentemente nos deparamos com conflitos de princípio que só podem ser removidos pela subordinação de um princípio a outro e que, portanto, só podem ser removidos negando algum compromisso moral até então fundamental. Nesse caso, é razoável insistir que um indivíduo deve modificar seus princípios? Sem deixar de lado a questão, que tipo de razão poderia ser dada que satisfizesse ao mesmo tempo as exigências da lógica e as da consciência? Suponhamos, então, que alguém se encontrasse diante do problema do mal e que mesmo após a mais deliberada e meticulosa reflexão ainda não encontrasse resposta para isso. Suponhamos também que ele descobriu que não poderia rejeitar ou qualificar nem a tese teológica nem a tese ética. Sem dúvida, tal pessoa acharia que suas aspirações religiosas e suas intuições morais não podem ser conciliadas e, portanto, que no âmago do que há de mais profundo e mais sincero nele como pessoa, permanece uma tragédia insuperável e incessante de autodivisão espiritual. Se apelamos para o princípio de consistência ou integridade, estamos evidentemente apelando para algo que, mesmo que ele seja sensível às suas próprias reivindicações, exige que ele renuncie às suas mais profundas lealdades, cesse, ou seja, seja a própria pessoa que é. Responder a ele, como faria o professor C. I. Lewis, que se ele continuar se dividindo, vai se arrepender é não dizer a ele algo que ele já não saiba. É claro que ele vai se arrepender; ele já está arrependido. Mas o que, em nome da bondade e de Deus, ele deve fazer? Ao dizer isso, não quero ser mal interpretado. Tenho tentado apenas ilustrar certas abordagens do problema do mal para ver qual é realmente sua importância existencial ou prática, por mim mesmo, para defender uma solução acima de outra. O estudo do problema do mal é instrutivo de muitas maneiras. Ajuda-nos a ver, em primeiro lugar, como as questões de lógica podem surgir na vida moral e religiosa, bem como na ciência ou na matemática. A própria possibilidade de um problema do mal deixa claro o fato de que questões de consistência não são impossíveis nos domínios da religião e da moral. Quaisquer argumentos nessa esfera só têm sentido na medida em que efetivamente nos dispõem a modificar nossos compromissos religiosos ou morais ativos. Qualquer dialética religiosa ou moral deve ser, na frase de Hegel, uma “lógica da paixão”. Em segundo lugar, o problema do mal nos torna forçosamente conscientes de que as teorias filosóficas que insistem na necessária “autonomia” dos princípios morais e religiosos não podem ser sustentadas. Isso não quer dizer que seja logicamente impossível divorciar a moral da religião e separar as questões relativas ao que é certo ou bom das questões relativas ao que é cultuado ou sagrado. Parece evidente para o humanista que as questões de certo e errado são respondidas sem recorrer à vontade de Deus. O que é bom é bom, e o fato de Deus querer não pode torná-lo mais. O que ele esquece é que, para o teísta, somente a vontade de Deus certifica que qualquer coisa é boa. Aqui, porém, não há um mero problema de análise que se possa pensar que uma investigação mais detalhada sobre os significados das expressões morais e religiosas possa resolver. Muitas vezes tal problema é apresentado como um conflito externo entre dois modos de vida distintos. afirmando a tese teológica (que em si envolve uma reivindicação moral), ele está aceitando a vontade de Deus, seja ela qual for, como a única que torna boas as coisas boas. Tal pessoa está presa dentro de si em um conflito prático de religião e moral. o que deve ser acreditado na esfera moral.
O estudo do problema do mal é instrutivo, enfim, na medida em que nos permite ver com grande clareza o que pode ser questionar a existência de Deus e como, dentro do próprio contexto religioso, tal questão deve surgir. a palavra “Deus” obtém seu significado primário do papel que desempenha no discurso religioso. E eu não apenas aceito, mas insisto na tese de que o discurso e a literatura religiosos fornecem os usos paradigmáticos do termo que é tarefa do filósofo explicar. Mas o discurso religioso não é o discurso de anjos que não conhecem o significado da dúvida, mas de homens para quem a dúvida é uma condição de vida. No caso de nossas próprias formas tradicionais de monoteísmo, esse trauma é causado diretamente pelo problema do mal. Na pendência de sua resolução, ou de nossa absolvição, a possibilidade de responder “Não” está imediatamente na balança. A fé religiosa não depende necessariamente das evidências confirmatórias da razão. Mas pode ser impugnado por evidências contrárias que a razão reconhece como incompatíveis com ela. Embora seja possível que homens de fé acreditem ou desejem acreditar que a tese teológica é verdadeira, é tão certo quanto a proposição de que dois mais dois são quatro que a tese é falsificável. então, é o mal?”
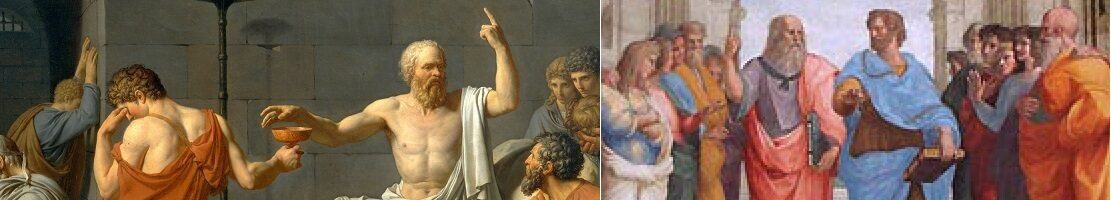

Be the first to comment on "H. D. AIKEN: GOD AND EVIL: A STUDY OF SOME RELATIONS BETWEEN FAITH AND MORALS (1958)"