REFERENCIAS
| B | – BERTI, Enrico. Razão Prática e Normatividade em Aristóteles (In: BERTI, Enrico. Novos Estudos Aristotélicos III – Filosofia Prática. Loyola, 2014).
| C | – CREMASCHI, S. Tendências neo-aristotélicas na ética atual. In: OLIVEIRA, M. (Org.). Correntes fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis: Vo]es, 2000. p. 9-30.
| D | – COITINHO, Denis. A reinterpretação contemporânea da ética Aristotélica das virtudes (In: HOBUSS, João. Ética das Virtudes, 2010).
RESUMO
Introdução
I. O neo-aristotelismo alemão
- Heidegger |B|-|C|-|D|
- Hans-Georg Gadamer |B|-|C|-|D|
- Joachim Ritter |B|-|C|-|D|
- Rúdiger Bubner |B|
- Hannah Arendt |C|-|D|
- Hans-Georg Gadamer |B|-|C|-|D|
II. O neo-aristotelismo de língua inglesa
- Stuart Hampshire |C|-|D|
- Elisabeth Anscombe |C|-|D|
- Peter Geach |C|-|D|
- Philippa Foot |C|-|D|
III. O neo-aristotelismo de língua inglesa – Comunitaristas
- Alasdair Macintyre |C|-|D|
- Bernard Williams | B |
- Hans Jonas | B |
- Toulmin | B |
- Charles Taylor |C|-|D|
- Martha Nussbaum |C|
- Amartya Sen | B |-|C|
- Joseph Raz |C|
ANSCOMBE, E. (1958). “Modern moral philosophy”, in: Philosophy 33, n. 124, p.1-19. BUBNER, R. (1984). Geschichtsprozesse und Handlungsnormen. Untersuchungenzur praktischen Philosophie. Suhrkamp, Frankfurt am Main. CRISP, R; SLOTE, M. (Ed.). Virtue ethics.New York:Oxford UniversityPress,1997. FOOT, Philippa (1967). “Moral beliefs”, in: FOOT, P. (ed.), Theories of ethics,Oxford University Press, Oxford. FOOT, P. Virtues and vices and other essays in moral philosophy. Oxford: BlacNwell, 1978. GEACH, P. (1967). “Good and evil”, in: FOOT, P. (ed.), Theories ofethics, Oxford University Press, Oxford. — (1979). The virtues. Cambridge University Press, Cambridge. GADAMER, H.-G. (1931). Platos dialektische Ethik, in: Gesammelte Werke, J.C.B. Mohr, Tiúbingen, 1986, vol. III. — (1960). Wahreit und Methode. Grundziige einer philosophischen Hermeneutik. J.C.B. Mohr, Tubingen, 1985 (Trad. bras.: Verdade e método — Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica, tradução de Flávio Paulo Meurer, Vozes, Petrópolis, 2º ed., 1998). — (1972-1974). “Hermeneutik als praktische Philosophie”, in: RIEDEL, M., Rehabilitierung der praktischen Philosophie, 2 vol., Rombach, Friburgo, p. 325-344. — (1963). “Uber die Môóglichkeit einer philosophischen Ethik”, in: GesammelteWerke, 10 vol., J.C.B. Mohr, Tibingen, 1985-1995, vol. IV, p. 175-188. — (1975). “Hermeneutics and social science”, in: Cultural Hermeneutics 2 (1975). HAMPSHIRE, S. (1949). “Fallacies in moral philosophy”, in: Mind 58, p. 466-448; reimpresso em Freedom of Mind, Clarendon, Oxford, 1972, p. 42-62. — (1976). “Ethics: A defence of Aristotle”, in: University of Colorado Studies 3, p.23-38; reimpresso em Freedom of Mind, Oxford, 1972, p. 63-86. — (1983). Morality and conflict. Harvard University Press, Cambridge, Ma. — (1989). Innocence and experience. Harvard University Press, Cambridge, Ma. MACINTYRE, A. (1966). 4 short history of ethics. SCM Press, Londres, 1966. — (1981). After virtue. University of Notre Dame Press, Notre Dame, In. — (1988). Whose justice? Which rationality? University of Notre Dame Press, NotreDame, Indiana. — (1990). Three rival versions ofmoral enquiry. Encyclopaedia, genealogy, and tradition. University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana. MOORE, G. E. Principia ethica. 2. ed. Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 1993 RAZ, J. (1985). The morality of freedom. Clarendon Press, Oxford. — (1994). Ethics and the public domain. Clarendon Press, Oxford. RIEDEL, M. (ed.) (1972-1974). Rehabilitierung der praktischen Philosophie. 2 vol.,Rombach, Friburgo. RITTER, J. (1969). Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel. Suhrkamp, Frankfurt am Main. TAYLOR, Ch. (1970). Explanation and meaning. Cambridge University Press, Cambridge. — (1982). “The diversity of goods”, in: SEN, A. e WILLIAMS, B., 1982. — (1985). “The nature and scope of distributive justice”, in: Philosophy and the human sciences. Cambridge University Press, Cambridge. — (1989). Sources of the self. The making of modern identity. Cambridge University Press, Cambridge. WALLACK, J.R. (1992). “Contemporary Aristotelianism”, in: Political Theory 20/4, p. 613-612.
OBSERVAÇÕES
Neste capítulo, Cremaschi apresenta a evolução do Neo-aristotelismo. O mesmo se dá basicamente em 3 linhas: a alemã, a liderada pelos alunos de Heideger e as anglos-saxônicas;
Da parte do Neo-aristotelismo alemão, destaca-se GADAMER, por se apresentar (a princípio) como um defensor das ideias Aristotélicas;
Mais tarde, existe um ponto de corte iniciado pela critica de ANSCOMBE em seu artigo de 1958. Deste se desenvolvem as teorias de FOOT e GEACH;
MACINTYRE “consolida” as teorias de FOOT e GEACH;
Conclusão: Ao que interessa, seja uma revalidação das teorias das virtudes, interessante considerar em uma abordagem mais densa a abordagem de MACINTYRE; Para fins de uma leitura “neoaristotélica”, considerar a abordagem de GADAMER;
Para Gadamer, a ética aristotélica apresenta um modelo correto de compreensão, que é um caso especial de aplicação de algo geral a uma situação concreta particular, que situa a razão prática e o saber moral como não estando separados do ente que é investigado, aplicando algo universal a uma situação particular a partir da própria situação concreta. (COITINHO, p.5)
FICHAMENTO
Desde que Hugo Grotius criticou asperamente a ética aristotélica no De jure belli ac pacis se passaram mais de três séculos até que esta fosse reapresentada como uma proposta atual. Foi somente depois da Segunda Guerra Mundial que se iniciaram duas retomadas paralelas da filosofia prática aristotélica ou de alguns de seus conceitos-chave no mundo de língua alemã e no mundo anglo-americano. Descreveremos estas duas retomadas separadamente enquanto se tratam, antes de mais nada, de percursos paralelos, com exceção de Arendt que atuou primeiramente na Alemanha e depois nos Estados Unidos. (CREMASCHI, p.1)
1. O neo-aristotelismo alemão
Na Alemanha, a redescoberta da ética aristotélica se concentrou na retomada das noções de praxis e de phronesis, […] curiosamente, depois da publicação dos cursos de Heidegger sobre Aristóteles realizados em Friburgo no período 1919-1923 e em Marburgo no período 1923-1928, aparece claro que justamente a partir das preleções de Heidegger sobre Aristóteles partiu a redescoberta da filosofia prática aristotélica por parte de seus alunos Hannah Arendt e Hans-Georg Gadamer (cf. Volpi, 1996; 1980). (CREMASCHI, p.1)
2. Hans-Georg Gadamer e a revalorização da phronesis
Hans-Georg Gadamer é o iniciador da corrente filosófica da hermenêutica. Sua obra principal, Verdade e método (1960), apresenta sua concepção de hermenêutica, que faz dela, de uma doutrina da compreensão de textos como era tradicionalmente entendida, a base de todas “as ciências do espírito”. […] A linguagem define todo relacionamento do homem com o mundo.
Em sua tese de habilitação, Platos dialektische Ethik (1931), Gadamer tinha defendido a idéia de que a ética de Platão não é doutrinária, mas “dialética” no sentido antigo; os diálogos platônicos são modelos que apresentam a vida ética não como um privilegiar de certas idéias, mas como uma tensão ao compreender através do jogo livre das idéias num diálogo interminável. (CREMASCHI, p.2)
A ideia central é a recuperação da phronesis aristotélica contraposta à techne. Recordou-se que Heidegger contrapunha techne a poiesis, evitando nomear a phronesis, o conhecimento moral que implica deliberação e aplicação a uma situação concreta. A compreensão como caso particular de aplicação de alguma coisa de universal a uma situação concreta e determinada. A ética aristotélica implica, também ela, “uma razão e um saber que não são separados de um ente que é fruto do movimento, assim como são determinados por ele”. Aristóteles foi o fundador da ética como disciplina autônoma em relação à metafísica enquanto limitou o intelectualismo socrático-platônico a propósito do problema do bem.
O saber filosófico do ser moral do homem só é possível considerando a situação concreta já que o bem sempre se apresenta na concretude particular de situações singulares. Este saber só pode ser um esboço que dá uma certa ajuda à consciência moral: uma ética filosófica não deve pretender tomar o lugar da consciência moral, mas deve limitar-se a ajudar ao auto-esclarecimento da consciência moral. Mas mesmo como esta ajuda é possível é um problema moral: implica que o que investiga já tenha construído em si, mediante o exercício e a educação, uma postura que é sua tarefa manter nas situações concretas da vida; é uma posição diferente dos métodos objetivantes da ciência moderna: o saber moral não é saber objetivo. O saber moral, diferentemente da techne, não pode ser aprendido ou desaprendido; não é suscetível de simples “aplicação”: “o que é justo não é plenamente determinável de modo independente das situações em que devo agir justamente”. (CREMASCHI, p.2-3)
Segundo Gadamer, o grande mérito de Aristóteles “foi o de antecipar o impasse de nossa cultura científica com sua descrição da razão prática como distinta da razão teórica e da habilidade técnica… o conceito de praxis que se desenvolveu nos últimos dois séculos é uma deformação horrível do que a práxis é em realidade. Em todos os debates do último século, a práxis foi entendida como aplicação da ciência a tarefas técnicas” (Gadamer, 1975: 312). (CREMASCHI, p.3)
Assim, Gadamer insiste sobre a necessidade de distinguir a compreensão moral de outras formas de conhecimento e de reinserir esta compreensão no horizonte da tradição, sublinhando seu caráter histórico e dialógico. A noção autêntica de práxis (cujo sentido se tornou difícil de compreender para o homem moderno, que é levado a contrapor teoria e práxis e a ver a práxis como “aplicação da ciência a tarefas técnicas”) é exemplificada em algumas esferas de nossa experiência, por exemplo a jurisprudência. De fato, formular um juízo implica a consideração tanto do caso particular como da lei geral. A práxis então não se funda numa norma abstrata a aplicar; ela é sempre motivada por exigências concretas e definitivamente marcada por pré-juízos, mas é também chamada a criticá-los. Na realidade, em cada cultura, age uma série de pressupostos não problematizados de que não temos consciência plena (Gadamer, 1972: 341-342). (CREMASCHI, p.4)
É justamente uma percepção errada do par teoria-prática que tornou irrealizável, pelo pensamento moderno, a tarefa (já por sua natureza ambígua e cheia de riscos) de construir uma ética. […]
A teoria, para o pensamento moderno, significa qualquer explicação da multiplicidade dos fenômenos que torne possível o dominio prático sobre eles. Este conceito moderno de teoria tornou inexeqjuiível a tarefa de fazer filosofia moral ou produziu caricaturas dela como a ética do iluminismo, com sua fé cega num progresso moral que teria acompanhado o progresso dos conhecimentos, à qual Kant conseguiu subtrair-se com a ajuda de Rousseau. (CREMASCHI, p.4)
É sempre Aristóteles que nos dá uma resposta dotada de uma certa coerência à pergunta sobre como é possível “uma ética filosófica, uma doutrina humana sobre o humano sem se tornar um ensoberbamento desumano” (Gadamer, 1963: 186). A ética aristotélica não é uma teoria que deva ser posta em prática. Não é tampouco um “saber à distância” ou um saber em geral. O saber, de fato, não é separado da consciência da norma que qualquer pessoa tem, que é uma consciência não teórica; além disso, não é separado do particular enquanto todo saber ético inclui a dimensão da “aplicação” ao caso particular. O saber ético, sendo phronesis, tem ele mesmo o caráter de uma virtude moral; o ensino da ética, sendo atividade educativa, tem ele mesmo uma validade moral, porque o destinatário “da lição aristotélica sobre ética deveria tornar-se interiormente sensível ao perigo de querer somente teorizar para se subtrair à exigência posta pela situação” (Gadamer, 1963: 187). (CREMASCHI, p.5)
4. Joachim Ritter e a reabilitação da filosofia prática
A consciência, para a cultura alemã em seu todo, da necessidade de uma retomada da “filosofia prática” se difunde em torno de 1969 com o IX Congresso Alemão de Filosofia (cf. Landgrebe, 1972). A afirmação da necessidade de uma retomada da filosofia prática é entendida de forma diferenciada e, ao lado de neo-aristotélicos como Ritter, entram na discussão personagens menos facilmente definiveis como Manfred Riedel, os neofrankfurtianos Karl-Otto Apel e Jiúrgen Habermas e os construtivistas Paul Lorenzen, Oswald Schwemmer, Friedrich Kambartel.
[…]
É no contexto desta discussão que aparece o termo “neo-aristotelismo”. O termo é usado pela primeira vez por Apel e Habermas, em perspectiva polêmica, para designar as posições, consideradas por eles como conservadoras, de Gadamer e de seus discípulos ‘ou companheiros de caminhada (Volpi, 1980; 1996; Schnãdelbach, 1986; Da Re, 1986; Pleines, 1989).Depois de Gadamer, o neo-aristotelismo alemão deve muito à contribuição de Joachim Ritter (Cunico, 1983). Na coleção de estudos sobre Aristóteles e Hegel, em Metaphysik und Politik (1969), Ritter defende que a tradição da filosofia prática teve início com Aristóteles, chegou a seu ápice com Wolff e é dissolvida com Kant e Hegel. No mundo moderno, por meio desta dissolução, dá-se uma separação entre moralidade e direito. Para Aristóteles, a unidade de ética e política se justificava na base de um significado de ética como aquilo que se radica no ethos, distinto do de moralidade (como pode ser entendida por Kant: dever, consciência, intenção). O justo é tirado concretamente do mundo institucional da vida habitual e das formas tradicionais conexas do agir sem recorrer a normas intrínsecas. (CREMASCHI, p.8)
A filosofia prática é, assim, uma filosofia do “fim” e não da “origem”: extrai da pólis, que chegou à sua plenitude, o que ethos e nomos são em sua essência. A natureza é fim; então, a pólis existe por natureza; então, o homem é, por natureza, ligado à pólis. Na idade moderna, com a separação de ética e política, a filosofia prática se traduz numa versão impotente, a ética consistindo em “postulados e imperativos do querer puro que só determinam o agir no íntimo ou na reflexão”. A doença do mundo contemporâneo estaria na cisão entre moralidade e direito: a subjetividade se retira para o privado e restringe a este o princípio da moralidade; a sociedade tende a corroer esta moralidade percebida como não justificada, porque meramente subjetiva (Cunico, 1983). (CREMASCHI, p.9)
5. O neo-aristotelismo de língua inglesa
Nos anos setenta e oitenta, a herança de Hannah Arendt será retomada nos Estados Unidos, sobretudo no âmbito daquele complexo de movimento político que será chamado de comunitarismo e que terá, entre suas fontes, também a retomada do republicanismo clássico. Dois autores que recordarei em seguida, MaclIntyre e Taylor, participarão neste movimento de pensamento. Já pela metade do século, ocorrera uma retomada, independentemente da influência alemã, de algumas temáticas aristotélicas: a do juízo moral como deliberação por obra de Stuart Hampshire, e a de bem objetivo e, portanto, do fim intrínseco e da virtude por obra dos neonaturalistas, Philippa Foot e Peter Geach.
[…]
Um desenvolvimento diferente será o de Marta Nussbaum e Amartya Sen, que pretenderão fundar um liberalismo teleológico sob a idéia de necessidades humanas e de uma qualidade da vida objetivas e recognoscíveis de modo intercultural (Wallack, 1992; Giorgini, 1989). (CREMASCHI, p.10)
6. Stuart Hampshire e o juízo moral como deliberação
Stuart Newton Hampshire, filósofo inglês que por longos períodos ensinou nos Estados Unidos, no ensaio Fallacies in moral philosophy (1949), critica as teorias éticas então hegemônicas no mundo anglo-saxão.
Intuicionistas é emotivistas têm em comum o erro de afirmar que “os livros de lógica contêm todas as formas de raciocínio e de argumentação que possam propriamente ser ditas racionais”; há, contudo, outras formas de argumentação menos absolutas e irrefutáveis, mas não irracionais. Na realidade, o juízo moral, como havia dito Aristóteles, é “deliberação”, isto é, um procedimento muito diferente daquele com que se chega às conclusões das ciências exatas, um procedimento em que conta o fato de que é cada um em particular que tem de exprimir sua posição e não somente a verdade das posições em abstrato. Assim, a deliberação é menos rigorosa do que os procedimentos seguidos pelas ciências, mas nem por isto o juízo moral é arbitrário como sustentava o emotivismo (Hampshire, 1976; 1983: 175). (CREMASCHI, p.10)
Em Innocence and experience (1989), Hampshire se confronta com o problema do pluralismo, isto é, com os conflitos típicos da sociedade moderna, que surgem da presença de interesses e deveres incompatíveis; propõe uma solução que se baseia numa noção procedimental de justiça, justamente na noção de deliberação. (CREMASCHI, p.10)
7. Elisabeth Anscombe, Peter Geach, Philippa Foot: Neonaturalismo e a ética da virtude
A partir dos anos cinquenta, uma série de críticas foi feita à filosofia moral analítica em suas formas dominantes. Já recordamos acrítica de Hampshire à postura de “espectador” do filósofo moral. Elisabeth Anscombe formulou uma crítica ao primado das regras e da ação obrigatória que a filosofia analítica herdou do mainstream da filosofia moral moderna, incluindo seja Kant seja Bentham.
Segundo Anscombe (1958), desta imagem da moral foi deixado fora um elemento essencial: as disposições, isto é, as virtudes que, ao contrário, estavam no centro da ética aristotélica.
Ao contrário, contra o “não-naturalismo” da metaética analítica, seja na versão emotivista, seja na versão intuicionista, se concentraram as críticas de Philippa Foot e Peter Geach. Estas críticas deram vida a uma posição que é chamada “neonaturalismo” enquanto afirma o caráter lícito do que George Moore tinha chamado de “falácia naturalista”.
O argumento de Foot é o seguinte: se encontramos algum exemplo de um “dever ser” que não implica um imperativo na primeira pessoa, ou um exemplo de “bom” em que os critérios não sejam objeto de escolha, poderemos definir-lhes usos simplesmente não prescritivos e não valorativos de “dever ser” e de “bom”? Segundo Foot, as expressões valorativas coligadas a virtudes e vícios, como “desconveniente” e “corajoso” têm critérios de aplicação factual; há premissas que, em virtude do significado destes termos, implicam a conclusão “assim ele se comportou de modo inconveniente”: mas esta é uma conclusão nitidamente valorativa; segue-se daqui que há circunstâncias em que se realiza legitimamente a passagem do ser ao dever ser (Foot, 1967).
Geach fez uma crítica análoga à de Foot, endereçada particularmente contra o argumento de Moore sobre o caráter indefinível da noção de “bom”. Segundo Geach, é pouco plausível pensar que “bom” no sentido moral e “bom” no sentido não moral sejam somente homônimos, porque, em diversas línguas, temos sentidos morais e não morais dos termos equivalentes a “bom”. É, então, possível encontrar um único significado geral possuído pelo termo seja no uso moral seja no uso não moral ou, pelo menos, um cerne de significado do qual derivam os outros sentidos (Geach, 1967; 1979).
(CREMASCHI, p.11-12)
8. Macintyre: práticas, virtudes e tradições
Alasdair MaclIntyre, filósofo britânico transferido para os Estados Unidos, já marxista crítico, depois de separar-se do marxismo em nome de seus fracassos morais, partindo do neonaturalismo, chegou a repropor uma ética das virtudes.
O problema de partida é o posto por Geach da diferença entre a “faca boa” e o “homem bom”. No segundo caso, temos uma variedade de critérios e devemos escolher entre estes critérios. Mas consideremos uma sociedade (como a sociedade grega) em que a forma de vida pressuponha um acordo sobre os fins. “Aqui há critérios sobre que há um acordo para o uso de bom, não só quando falamos de “bom cavalo” e de “agricultor bom”, mas também quando falamos de “homem bom”… há uma lista de virtudes reconhecidas, um conjunto estabelecido de normas morais, uma conexão institucionalizada entre obediência às normas, prática das virtudes, consecução de fins… o contraste entre linguagem valorativa e linguagem do gosto e da escolha tornar-se-ia totalmente claro” (MacIntyre, 1966: 265).
(CREMASCHI, p.12)
É esta a idéia basilar da obra mais conhecida de Maclntyre: After virtue (1981). A obra parte de um diagnóstico da condição atual, isto é, da ética centrado sobre a tese do fracasso do projeto iluminista de uma ética autônoma. Kant, Diderot, Adam Smith são “os herdeiros de um esquema muito específico e particular de crenças morais, um esquema, cuja incoerência interna assegurou o fracasso do projeto filosófico comum desde o início”. Havia uma discrepância ineliminável entre “a concepção, compartilhada por eles, de normas e preceitos morais de um lado e aquilo que aí era compartilhado em suas concepções sobre a natureza humana de outro lado”. (CREMASCHI, p.13)
O conceito de virtude, central para a concepção aristotélica, só era pensável a partir de uma certa forma de vida. A cisão entre ser e dever ser foi aceita por Hume e Kant, porque não era mais uma evidência que o conceito de “ser humano” é um conceito funcional como o era para Aristóteles. A plausibilidade de um tal conceito de ser humano e da noção a ele vinculada de virtude não é tanto questão de teorias filosóficas quanto questão de “formas de vida”. A idéia de virtude, como telos do ser humano qual é/deve ser, poderia subsistir somente em comunidades que assegurassem aos próprios membros papéis compreensíveis e em rela- ção aos quais fosse compreensível a natureza da efetivação “boa” do papel. (CREMASCHI, p.13)
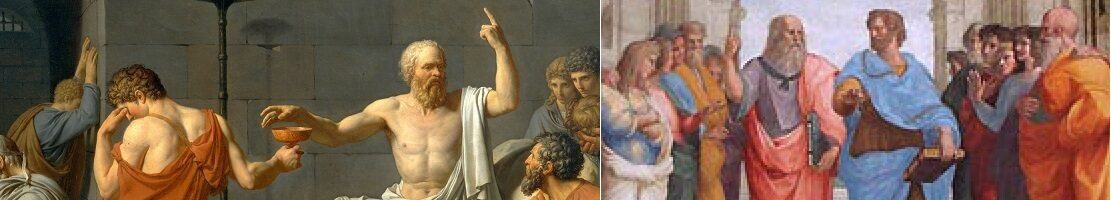
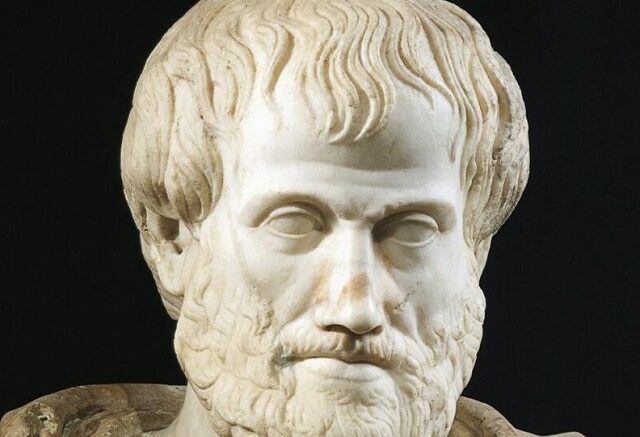
Be the first to comment on "Neoaristotelismo: S. Cremaschi / D. Coitinho / E. Berti"